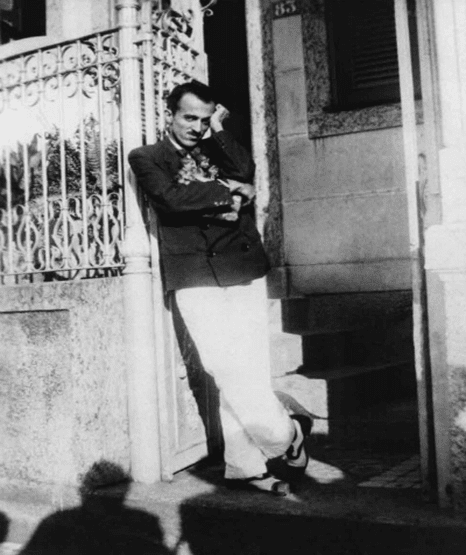“Consagrado no gramado, sempre amado, o mais cotado. Nos Fla-Flus é o Ai, Jesus”! Lamartine Babo
As unidades de geração desenvolvem perspectivas, reações e posições políticas e afetivas diferentes em relação a um mesmo dado problema. O nascimento em um contexto social idêntico, mas em um período específico, faz surgirem diversidades nas ações dos sujeitos. Outra característica é a adoção ou criação de estilos de vida distintos pelos indivíduos, mesmo vivendo em um mesmo âmbito social. Em outras palavras: a unidade geracional constitui uma adesão mais concreta em relação àquela estabelecida pela conexão geracional. A forma como grupos de uma mesma “conexão geracional” lida com os fatos históricos vividos, por sua geração, fará surgir distintas unidades geracionais no âmbito da mesma conexão geracional no conjunto da sociedade. Karl Mannheim não esconde sua preferência pela abordagem histórico-romântica alemã e destaca ainda que este é um exemplo bastante claro de como a forma de se colocar uma questão pode variar de país para país, assim como de uma época para outra. Ao invés de associar as gerações a um conceito de tempo externalizado e mecanicista, pautado por um princípio de linearidade, o pensamento histórico-romântico alemão se esforça por buscar no problema geracional uma contraproposta diante da linearidade do fluxo temporal da história. Suas inquietações no plano metodológico apresentam como fio condutor e boutade o estigma e suas consequências sociais, percebidos a partir de diversos ângulos, mas sua principal temática de investigação é de fato a questão racial. Ele publicou em sua progênie os seguintes ensaios etnológicos: “Atitude Desfavorável de Alguns Anunciantes de São Paulo em Relação aos Empregados de Cor” (1942) e “Preconceito de Marca: As Relações Raciais em Itapetininga” (1955) e também “Negro político, político negro”, seu último trabalho.
Todos eles versam sobre as distintas formas e condicionamentos sociais sobre os quais de constituem as manifestações de preconceito, aspecto que organiza o entendimento da questão racial brasileira. Após anos de estudos e pesquisas de Oracy Nogueira (1917-1996) chegou-se à conclusão que o estilo de racismo à brasileira caracteriza-se pelo “preconceito de marca”. Assim, o preconceito de marca se estabeleceria em relação às aparências. Quando toma por pretexto para as suas manifestações de vida, os traços físicos do indivíduo, a fisionomia, os gostos, o sotaque, caracterizando a marca. Mas basta a suposição de que o indivíduo descende de grupo étnico, para que supra as consequências do preconceito: diz-se que é de origem. O impacto desses estudos foi assimilado de modo traumático porque havia na ideologia brasileira e na academia, como ambiente cultural, certo compromisso com a tese sociológica da democracia racial. Com os trabalhos de Roger Bastide (1898-1974) e Florestan Fernandes (1920-1995), em “Negros e brancos em São Paulo”, é que foi revelada, por trás das relações, o preconceito racial com o preconceito de classe e, portanto, o preconceito racial constitutivo da sociabilidade na sociedade brasileira. Oracy Nogueira compreende que os estudos que tratam da “situação racial” brasileira, no que se refere ao negro (e ao mestiço de negro), podem ser divididos em três correntes: 1) a corrente afro-brasileira, a que deram impulso Nina Rodrigues e Arthur Ramos (1903-1949), e os estudiosos que mais diretamente foram influenciados por ambos; e que, sob a influência de Melville Jean Herskovits (1895-1963), um antropólogo, pesquisador e professor universitário norte-americano que firmemente estabeleceu Estudos africanos e Estudos afro-americanos na academia americana.
Ipso facto, ele prossegue, sob uma forma renovada, com os trabalhos de René Ribeiro, Roger Bastide e outros, podendo ser caracterizada como aquela corrente que dá ênfase ao estudo do processo de aculturação, preocupada em determinar a contribuição das culturas africanas à formação da cultura brasileira; 2) a dos estudos históricos, em que se procura mostrar como ingressou o negro na sociedade brasileira, a receptividade que encontrou e o destino que nela tem tido, corrente esta de que Gilberto Freyre (1900-1987) é o principal representante; e 3) a corrente sociológica que, sem desconhecer a importância das duas perspectivas mencionadas, se orienta no sentido de desvendar o estado das relações entre os componentes brancos e de cor, seja qual for o grau de mestiçagem concretamente com o negro ou o com o índio na história da população brasileira. Em termos metodológicos, o estudo de comunidade, instrumento com que a Sociologia nasceu entre nós, largamente influenciada pelos desdobramentos da escola de Chicago (EUA), fora enriquecido pela investigação histórica das relações entre brancos e negros durante a escravidão. Em termos interpretativos, porque Nogueira, desafiando as lições de Herbert Blumer (1900-1987) e de seu mestre Donald Pierson (1900-1995), teorizava uma forma nova de preconceito racial, presente em sociedades como o Brasil, quando distinguem os dois tipos básicos de preconceito racial: - Considera-se como preconceito racial uma disposição (ou atitude) desfavorável, culturalmente condicionada, em relação aos membros de uma população, aos quais se têm como estigmatizados, seja devido à aparência, seja devido a toda ou parte da ascendência étnica que se lhes atribui ou reconhece. Quando o “preconceito de raça” se exerce em relação à aparência, isto é, quando toma por pretexto para as suas manifestações, os traços do indivíduo, a fisionomia, os gestos, o sotaque, diz-se que é de marca; quando basta a suposição de que descende de certo grupo étnico para que sofra as consequências sociais do preconceito, pois se diz que é de origem histórica e socialmente determinada.
O
primeiro aspecto, no plano de análise identifica a distinção entre preconceito
de marca (aparência) e preconceito de origem (ascendência), que historicamente
tem o intuito de qualificar a situação racial brasileira vis-à-vis aos
condicionamentos histórico- raciais na sociedade norte-americana. Tratava-se de
estabelecer uma crítica às análises que diferenciavam o preconceito racial
brasileiro daquele das demais sociedades (em especial a norte-americana) apenas
em termos de intensidade, sem qualificá-lo. Essa abordagem significou o ponto
de partida de sua contribuição sociológica ao tema na medida em que o autor, ao
analisar o preconceito, além de reconhecê-lo, situa-o como um problema central
nos estudos das relações raciais no Brasil. Sua perspectiva acerca da sociedade
norte-americana foi desenvolvida durante sua estadia naquele país,
posteriormente à passagem de Gilberto Freyre na University of Columbia, entre
os anos de 1945 e 1947, na Universidade de Chicago, para a realização do
doutorado. Ao longo do texto, ele fornece relatos etnográficos de situações
cotidianas que vivenciou nos Estados Unidos e cujo impacto social proporcionou
o insight para a criação do quadro teórico-metodológico de referência para
compreender a situação racial brasileira. Os Estados Unidos e o Brasil
constituem exemplos de dois tipos de “situações raciais”: um em que o preconceito
racial é manifesto e insofismável e outro em que o próprio reconhecimento
do preconceito tem dado margem a uma controvérsia de não se superar.
O
ponto central da reflexão de da sociologia de Oracy Nogueira é a permanência,
o desenvolvimento e a especificidade do preconceito racial no Brasil,
que ele chama de “preconceito de cor”, ou “preconceito de marca”. Preconceito
que facilitou a integração e a ascensão social dos imigrantes europeus e
retardou e impediu a ascensão dos negros. Primeiro, porque os brasileiros
natos, seja no cotidiano, seja em sua ideologia política ou literária, sempre
viram no imigrante branco um elemento de melhoramento ou a ideologia de
branqueamento da raça. Segundo, “enquanto a ascensão de descendentes de
imigrantes tanto se pode dar com o cruzamento como sem o cruzamento com
descendentes de antigos colonizadores portugueses, a ascensão de elementos de
cor ou pressupõe ou se faz acompanhar do cruzamento com elementos brancos, seja
qual for a origem deles”. Em consequência, cada conquista do negro ou do mulato
que logra vencer econômica, profissional ou intelectualmente tende a ser
absorvida, em uma ou duas gerações, pelo grupo branco, através do branqueamento
progressivo e da progressiva incorporação dos descendentes a esse grupo. O
negro, a cada geração, teria, portanto, de começar, de novo, lutando contra o
preconceito e sem a solidariedade de um grupo identitário. Sim, porque o sociólogo Oracy
confirma o que já se sabia antes dele, e será reafirmado depois: não há, no
Brasil, grupo racial qua grupo. A diferença, é que, existindo o
grupo para os outros, ainda que não para si, torna-se objeto de discriminação,
mas não solidariedade que possam fortalecê-lo na luta contra
o preconceito.
O objeto teorizado por Oracy Nogueira é justamente essa complexa constelação de “preconceitos baseados em marcas” (1998), afastados de origens geográficas ou culturais, resguardados por ideologias “assimilacionistas”, que impedem o cultivo de diferenças identitárias pelos setores já discriminados. Muitos desses decadentes foram carreados a cargos burocráticos, quando não, a ofícios manuais, considerados menos prestigiosos na localidade. As violações ao “intra-casamento” alimentaram as formas em que se dá a miscigenação. Neste caso foram recolhidos casos frequentes de “uniões pré-maritais” – duradouras ou ocasionais – de homens brancos de projeção, com “mulheres de cor”, prática que chegou até as primeiras décadas deste século. Isso, em detrimento da salvaguarda das famílias brancas, que detinham status social superior e concentravam poder econômico e político. Mestiços resultantes dessas uniões ostentando alguns deles nome de família tradicional, quando instruídos e dotados de traços negroides pouco acentuados, beneficiaram-se desse conjunto de circunstâncias para atingir posto em atividades menos desvalorizadas, podendo até conquistar destaque político.
De qualquer modo, no entanto, o apelo a atitudes e práticas simulatórias, dissimulatórias ou elusivas, correntes na localidade, indicavam o mal-estar provocado por tais fatos sociais, em razão do preconceito aí vigente. Servem de exemplos: o uso de termos imprecisos, como “pardo”, “mestiço” para designações mais embaraçosas; e a dissimulação social em reconhecer o status social como de negros (as), a despeito dos traços étnicos denunciadores, identificados pelo pesquisador, fotografia(s) de pessoa(s) socialmente aceita(s) como integrante(s) do segmento branco. Oracy Nogueira rememora que outro recurso esclarecedor da chamada resistência local às oportunidades, acessíveis a negros e negroides, encontram-se no paralelo entre a efetiva ascensão social no quadro de estrangeiros (principalmente italianos), portadores de conhecimentos técnicos, e a de negros e seus mestiços, mesmo quando, porventura, também portadores desses conhecimentos. A estes últimos o casamento com brancas representou sempre condição indispensável, mas não àqueles outros. Aposentado o etnólogo ainda escreveria, entre outras coisas, a expressiva Introdução a seu livro Tanto preto quanto branco (1985), que reedita seus artigos sobre relações raciais e a original biografia Negro Político, Político Negro (1992) misturando ficção à pesquisa sociológica na narrativa da trajetória pessoal Dr. Alfredo Casemiro da Rocha, prefeito de Cunha na República Velha, caso singular de ascensão social de um homem negro no Brasil. É recém-saído do regime escravocrata e o objeto de estudo de Oracy Nogueira neste livro, que alia reflexão sociológica a relato biográfico ao analisar a vida desse médico negro que teve intensa atividade política no interior de São Paulo e chegou inclusive a ocupar cadeira de Senador da República.
O
problema geracional se torna um problema de existência de um tempo interior não
mensurável e que só pode ser apreendido qualitativamente. As unidades de
geração desenvolvem perspectivas, reações e posições políticas diferentes em
relação a um mesmo problema dado. O nascimento em um contexto social idêntico,
mas em um período específico, faz surgirem diversidades sociais nas ações dos
sujeitos. Outra característica é a adoção ou criação de estilos de vida
distintos pelos indivíduos, mesmo vivendo em um mesmo meio social. Em outras
palavras: a unidade geracional constitui uma adesão mais concreta em relação
àquela estabelecida pela conexão geracional. Estes, de acordo com Mannheim,
foram produtos específicos - capazes de produzir mudanças sociais - da colisão
entre o tempo biográfico e o tempo histórico. Ao mesmo tempo, as gerações podem
ser consideradas o resultado de descontinuidades históricas e, portanto, de
mudanças sociais. Em outras palavras: o que forma uma geração não é uma data de
nascimento comum - a “demarcação geracional” é algo apenas potencial - mas é a
parte do processo histórico que jovens da mesma idade-classe de fato
compartilham em vista do vínculo com a geração atual. Interessante notar
comparativamente que também neste período se dava o importante capítulo
brasileiro na vida de Fernand Braudel (1902-1985), iniciado em 1935, quando o historiador
aceitou um repentino convite aetivo para se incorporar à Missão Francesa que, a
partir de 1934, ajudou a fundar e construir a nossa extraordinária Universidade de São Paulo.
Esta
permanência no Brasil, que se prolongou por três anos consecutivos, e que se
repetirá por sete meses em 1947, foi, contudo, apenas o ponto de partida de uma
relação social e uma experiência mais geral que Braudel entabulará com a
América Latina, e que absorverá parte considerável de sua atividade
intelectual, de 1935 até aproximadamente os anos de 1953. Desse modo, o
trabalho como Titular da cátedra de História das Civilizações da Universidade
de São Paulo representa pari passu a origem de um interesse que Fernand Braudel
desenvolverá com respeito à história social e à civilização latino-americanas.
Culminará no fato de que uma parte substancial de sua atividade acadêmica e
intelectual, desenvolvida entre 1946 e 1953, terá como parâmetro essa história
e vida latino-americanas que, entre os anos de 1935 e 1953 estará voltado para
seu interesse mediado em ambos os períodos por um terceiro, cujo centro de
gravidade será o tema global de seu Mediterrâneo (cf. Aguirre Rojas, 2003). Suas
inquietações no plano intelectual e metodológico de pesquisa apresentam como
fio condutor e boutade o estigma e suas consequências sociais, percebidos a
partir de diversos ângulos, mas sua principal temática de investigação é de
fato a questão racial. Vale lembrar que autor publicou em sua progênie,
“Atitude Desfavorável de Alguns Anunciantes de São Paulo em Relação aos
Empregados de Cor” (1942) e “Preconceito de Marca: As Relações Raciais em
Itapetininga” (1955) e também “Negro político, político negro”, seu último
trabalho. Eles versam sobre as distintas formas e condicionamentos sociais
sobre os quais de constituem as manifestações de preconceito, aspecto que
organiza o entendimento da questão racial brasileira. Após anos de estudos e
pesquisas de Oracy Nogueira chegou-se à conclusão que o estilo de racismo à
brasileira caracteriza-se pelo “preconceito de marca”.
Assim,
o preconceito de marca se estabeleceria em relação às aparências. Quando
toma por pretexto para as suas manifestações de vida, os traços físicos do
indivíduo, a fisionomia, os gostos, o sotaque, caracterizando a marca. Mas
basta a suposição de que o indivíduo descende de grupo étnico, para que supra
as consequências do preconceito: diz-se que é de origem. O impacto desses
estudos foi assimilado de modo traumático porque havia na ideologia brasileira
e na academia, como ambiente cultural, certo compromisso com a tese sociológica
da democracia racial. Com os trabalhos de Roger Bastide e Florestan Fernandes,
em “Negros e brancos em São Paulo”, é que foi revelada, por trás das relações,
a realidade do preconceito racial de par em par com o preconceito de classe e,
portanto, o preconceito racial constitutivo da sociabilidade na sociedade
brasileira. Oracy Nogueira compreende que os estudos que tratam da “situação
racial” brasileira, no que se refere ao negro (e ao mestiço de negro), podem
ser divididos em três correntes: 1) a corrente afro-brasileira, a que deram
impulso Nina Rodrigues (1862-1906) e Arthur Ramos, e os estudiosos que mais
diretamente foram influenciados por ambos; e que, sob a influência de
Herskovits, prossegue, sob uma forma renovada, com os trabalhos de René
Ribeiro, Roger Bastide e outros, podendo ser caracterizada como aquela corrente
que dá ênfase ao estudo do processo de aculturação, preocupada em determinar a
contribuição das culturas africanas à formação da cultura brasileira; 2) a dos
estudos históricos, em que se procura mostrar como ingressou o negro na
sociedade brasileira, a receptividade que encontrou e o destino que nela tem
tido, corrente esta de que Gilberto Freyre é o principal representante dentro e fora do Brasil; e 3) a
que, sem desconhecer as duas perspectivas já mencionada, se orienta no sentido
de desvendar as relações entre os componentes brancos e de cor seja qual for o
grau de mestiçagem com o negro ou o índio da população brasileira.
Em
termos metodológicos, não queremos perder de vista o estudo de comunidade,
instrumento com que a Sociologia nasceu entre nós, largamente influenciada
pelos desdobramentos da escola de Chicago, que fora enriquecido pela
investigação histórica das relações entre brancos e negros durante a
escravidão. Em termos interpretativos, porque Nogueira, desafiando as lições de
Herbert Blumer e de seu mestre Donald Pierson (1900-1995), interpretava uma
forma nova de preconceito racial, presente em sociedades como o Brasil, quando
distinguem os dois tipos básicos de preconceito racial: - Considera-se como
preconceito racial uma disposição (ou atitude) desfavorável, culturalmente
condicionada, em relação aos membros de uma população, aos quais se têm como
estigmatizados, seja devido à aparência, seja devido a toda ou parte da
ascendência étnica que se lhes atribui ou reconhece. Quando o “preconceito de
raça” se exerce em relação à aparência, isto é, quando toma por pretexto para
as suas manifestações, os traços físicos do indivíduo, a fisionomia, os gestos,
o sotaque, diz-se que é de marca; quando basta a suposição de que o indivíduo
descende de certo grupo étnico para que sofra as consequências do preconceito, pois
que é de origem histórica e socialmente determinada.
Em
termos metodológicos, não queremos perder de vista o estudo de comunidade,
instrumento com que a Sociologia nasceu entre nós, largamente influenciada
pelos desdobramentos da escola de Chicago, que fora enriquecido pela
investigação histórica das relações entre brancos e negros durante a
escravidão. Em termos interpretativos, porque Nogueira, desafiando as lições de
Herbert Blumer e de seu mestre Donald Pierson (1900-1995), interpretava uma
forma nova de preconceito racial, presente em sociedades como o Brasil, quando
distinguem os dois tipos básicos de preconceito racial: - Considera-se como
preconceito racial uma disposição (ou atitude) desfavorável, culturalmente
condicionada, em relação aos membros de uma população, aos quais se têm como
estigmatizados, seja devido à aparência, seja devido a toda ou parte da
ascendência étnica que se lhes atribui ou reconhece. Quando o “preconceito de
raça” se exerce em relação à aparência, isto é, quando toma por pretexto para
as suas manifestações, os traços físicos do indivíduo, a fisionomia, os gestos,
o sotaque, diz-se que é de marca; quando basta a suposição de que o indivíduo
descende de certo grupo étnico para que sofra as consequências do preconceito, pois
que é de origem histórica e socialmente determinada.
O
personagem brasileiro da Disney, Zé Carioca, está completando 80 anos, dia 24
de agosto de 2022! Milton Nascimento, Caetano Veloso, Paulinho da Viola e
Gilberto Gil são algumas das personalidades importantes da cultura nacional que
estão completando 80 anos em 2022. Mas um brasileiro muito querido e especial
está também virando octogenário: Zé Carioca. Muito antes de o Louro José fazer
sucesso com o público, esse papagaio, nascido no dia 24 de agosto de 1942 pelas
mãos de Walt Disney (segundo divulgado, ele foi desenhado em um guardanapo no
Copacabana Palace), já conquistava por seu carisma e, claro, sua malandragem.
O primeiro aspecto, no plano de análise identifica a distinção entre preconceito
de marca (“aparência”) e preconceito de origem (“ascendência”), que
historicamente tem o intuito de qualificar a situação racial brasileira
vis-à-vis aos condicionamentos históricos- raciais na sociedade
norte-americana. Tratava-se de estabelecer uma crítica às análises que
diferenciavam o preconceito racial brasileiro daquele das demais sociedades (em
especial a norte-americana) apenas em termos de intensidade, sem qualificá-lo.
Essa abordagem significou o ponto de partida de sua contribuição sociológica ao
tema na medida em que o autor, ao analisar o preconceito, além de reconhecê-lo,
situa-o como um problema central nos estudos das relações raciais no Brasil.
Sua perspectiva acerca da sociedade norte-americana foi desenvolvida durante
sua estadia naquele país, posteriormente à passagem de Gilberto Freyre na
University of Columbia, entre os anos de 1945 e 1947, na Universidade de
Chicago, para a realização do doutorado. Ele fornece relatos etnográficos de
situações cotidianas que vivenciou nos Estados Unidos e cujo impacto social
proporcionou o insight para a criação do quadro teórico-metodológico de
referência para compreender a situação racial brasileira.
Os Estados Unidos e o Brasil constituem exemplos de dois tipos de “situações raciais”: um em que o preconceito racial é manifesto e insofismável e outro em que o próprio reconhecimento do preconceito tem dado margem a uma controvérsia de não se superar. O ponto central da reflexão de da sociologia de Oracy Nogueira é a permanência, o desenvolvimento e a especificidade do preconceito racial no Brasil, que ele chama de “preconceito de cor”, ou “preconceito de marca”. Preconceito que facilitou a integração e a ascensão social dos imigrantes europeus e retardou e impediu a ascensão dos negros. Primeiro, porque os brasileiros natos, seja no cotidiano, seja em sua ideologia política ou literária, sempre viram no imigrante branco um elemento de melhoramento ou a ideologia de branqueamento da raça. Segundo, “enquanto a ascensão de descendentes de imigrantes tanto se pode dar com o cruzamento como sem o cruzamento com descendentes de antigos colonizadores portugueses, a ascensão de elementos de cor ou pressupõe ou se faz acompanhar do cruzamento com elementos brancos, seja qual for a origem deles”. Em consequência, cada conquista do negro ou do mulato que logra vencer econômica, profissional ou intelectualmente tende a ser absorvida, em uma ou duas gerações, pelo grupo branco, através do branqueamento progressivo e da progressiva incorporação dos descendentes a esse grupo. O negro, a cada geração, teria, portanto, de começar, de novo, lutando contra o preconceito e sem a solidariedade de um grupo identitário. Sim, porque Oracy confirma o que já se sabia antes dele, e será reafirmado depois: não há, no Brasil, grupo racial qua grupo. A diferença, para Oracy, é que, existindo o grupo para os outros, ainda que não para si, torna-se objeto de discriminação, mas não cria laços de solidariedade que possam fortalecê-lo em sua luta contra o preconceito socialmente estabelecido.
O objeto teorizado por Oracy Nogueira é justamente essa complexa constelação de preconceitos baseados em marcas (1998), afastados de origens geográficas ou culturais, resguardados por ideologias “assimilacionistas”, que impedem o cultivo de diferenças identitárias pelos setores já discriminados. Muitos desses decadentes foram carreados a cargos burocráticos, quando não, a ofícios manuais, considerados menos prestigiosos na localidade. As violações ao “intra-casamento” alimentaram as formas em que se dá a miscigenação. Neste caso foram recolhidos casos frequentes de “uniões pré-maritais” – duradouras ou ocasionais – de homens brancos de projeção, com “mulheres de cor”, prática que chegou até as primeiras décadas deste século. Isso, em detrimento da salvaguarda das famílias brancas, que detinham status social superior e concentravam poder econômico e político. Mestiços resultantes dessas uniões, ostentando alguns deles nome de família tradicional, quando instruídos e dotados de traços negroides pouco acentuados, beneficiaram-se desse conjunto de circunstâncias para atingir posto em atividades menos desvalorizadas, podendo até conquistar destaque político. De qualquer modo, o apelo a atitudes e práticas simulatórias, dissimulatórias ou elusivas, indicavam o mal-estar por tais fatos, em razão do preconceito aí vigente.
Servem de exemplos: o uso corrente de termos imprecisos, como “pardo”, pelos militares e “mestiço”, mesmo que sobre este último o magnânimo antropólogo Darcy Ribeiro tenha escrito a respeito, e neste caso, para designações menos embaraçosas; e a dissimulação social em reconhecer o status social como de negros (as), a despeito dos traços étnicos denunciadores, identificados pelo pesquisador, fotografia(s) de pessoa(s) socialmente aceita(s) como integrante(s) do segmento branco. Oracy Nogueira rememora que outro recurso esclarecedor da chamada resistência local às oportunidades, acessíveis a negros e negroides, encontram-se no paralelo entre a efetiva ascensão social no quadro de estrangeiros (principalmente italianos), portadores de conhecimentos técnicos, e a de negros e seus mestiços, mesmo quando, porventura, também portadores desses conhecimentos. A estes últimos o casamento com brancas representou sempre condição indispensável, mas não àqueles outros. Aposentado o etnólogo escreveria a expressiva Introdução a seu livro Tanto preto quanto branco (1985), que reedita seus artigos sobre relações raciais e a original biografia Negro Político, Político Negro (1992) que mistura ficção à pesquisa histórica e sociológica na narrativa da trajetória pessoal e política do Dr. Alfredo Casemiro da Rocha, prefeito de Cunha na República Velha, caso singular de ascensão de um homem negro no Brasil recém-saído do regime escravocrata é o objeto de estudo de Oracy Nogueira neste livro, que alia reflexão sociológica a relato biográfico ao analisar a vida desse médico negro que teve intensa atividade política no interior de São Paulo e chegou inclusive a ocupar cadeira de Senador da República.
A
primeira canção de Lamartine Babo (Lalá) a ser gravada seria justamente uma marchinha
para o carnaval de 1927, intitulada “Os Calças Largas”, que satirizava a moda
masculina. O carnaval de 1927 no Rio de Janeiro teve um desfile de corso,
“uma agremiação carnavalesca que desfilava com carros ornamentados pelas ruas
da cidade”. O corso era uma brincadeira popular no Brasil no final do
século XIX e início do século XX. Os foliões fantasiados jogavam confetes,
serpentinas e lança-perfume nos ocupantes dos carros. O carnaval no Rio de
Janeiro é historicamente uma festa popular que inclui blocos de rua, bailes e
desfiles de escolas de samba. A ela se seguiram muitas outras, “eternizadas”
nos bailes e blocos de rua, como “Linda Morena” e “A.E.I.O.U”, esta música em
parceria com Noel Rosa (1910-1937). Noel de Medeiros Rosa foi um sambista,
cantor, compositor, bandolinista e violonista brasileiro, um dos maiores e mais
importantes artistas da música no Brasil. Teve contribuição fundamental na
legitimação do samba de morro e no “asfalto”, ou seja, entre a classe média e o
rádio, principal meio de comunicação de massa - fato de grande importância
socialmente, não só para o samba, mas para a história da música popular
brasileira. Morto prematuramente aos 26 anos em decorrência de tuberculose,
deixou um conjunto de canções que se tornaram clássicas dentro do cancioneiro
popular brasileiro. Mais tarde, em 2016 foi agraciado in memoriam com a Ordem
do Mérito Cultural do Brasil, na classe de grão-mestre. É uma ordem
honorífica dada a personalidades brasileiras e estrangeiras como forma de
reconhecer sociologicamente suas contribuições em caráter meritório à cultura
do Brasil.
Antropologicamente é uma cruz de Sant`Iago da
Espada esmaltada de branco perfilada de ouro. No centro, um livro aberto
lavrado de ouro sobre uma coroa de louros circundado pela legenda Ordem do
Mérito Cultural. Simbolicamente encarna a faixa de gorgorão de seda chamalotada
de púrpura, com insígnia pendente no laço. Placa com resplendor de ouro sob a
insígnia. Fita média de gorgorão de seda chamalotada de púrpura, com a insígnia
pendente no centro. Fita estreita de gorgorão de seda chamalotada de púrpura,
com a insígnia pendente na extremidade da ponta. Em 1932, “O Teu Cabelo Não
Nega”, em coautoria com os irmãos João e Raul Valença, causou rebuliço nos
salões aristocráticos do clube do Fluminense. Apesar da execução por uma
orquestra com 18 componentes, entre os quais Pixinguinha (1897-197) na flauta,
os versos ousados chocaram boa parte da elite social, que, “escandalizada,
abandonou de imediato o local”. A obra de Lalá gira em torno de 300 músicas.
Entre as mais reconhecidas estão “No Rancho Fundo”, em parceria com Ary
Barroso, de 1931, e “Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda”, composta com
Francisco Mattoso, de 1942. Foi instituída pelo artigo 34 da lei nº 8.313 de 23
de dezembro de 1991 e pelo decreto nº 1.711 de 22 de novembro de 1995 pelo
presidente FHC. A entrega das insígnias ocorre no dia 5
de novembro de cada ano, quando se comemora o Dia Nacional da Cultura.
O acervo inclui, ainda, composições criadas para as festas juninas, como “Chegou a Hora da Fogueira”, gravada em 1933 por Carmen Miranda e Mário Reis. No ano seguinte, o cantor gravaria outro hit da dança de quadrilha, chamado “Isto É Lá com Santo Antônio”. Ao longo da carreira autoral, Lamartine Babo escreveu, também, operetas e canções para o teatro de revista, além dos livros Pindaíba (1932) e Lamartiníadas (1939), e textos satíricos publicados nas revistas Dom Quixote, Para Todos e Shimmy. Quanto à atuação no rádio, que o celebrizou, a trajetória se iniciou em 1930, com o programa Casa dos Discos. A este se seguiram Clube da Meia-Noite, Clube dos Fantasmas e A Canção do Dia, entre outros, sendo o mais famoso de todos o Trem da Alegria, realizado entre 1943 e 1956 por um trio formado por Lalá, Yara Salles e Héber de Bôscoli. A presença maciça do público fazia com que as apresentações fossem realizadas sempre em teatros, como o João Caetano. Ali, em 10 de janeiro de 1944, quando Lamartine Babo completava 40 anos, ele executou pela primeira vez, numa só noite, os hinos de todos os participantes do campeonato estadual de 1943, com destaque para a popularidade carioca do clube de Regatas Flamengo, que se sagrou bicampeão carioca naquele ano. Além do rubro-negro, foram homenageados os times de futebol Bangu, Bonsucesso, Botafogo, Canto do Rio, o Fluminense, único hino composto em parceria, com Lírio Panicali (1906-1984), Madureira, São Cristóvão, Vasco e América.
Em 1759, com a expulsão dos jesuítas do Brasil pelo Marquês de Pombal (1699-1782), as suas fazendas foram vendidas a centenas de novos sitiantes. A região passou a caracterizar-se pelas suas chácaras e, a partir do Século XX, passou a ser um bairro tipicamente urbano. Ainda assim, possui a terceira maior floresta urbana do mundo, a Floresta da Tijuca, plantada por determinação de dom Pedro II (1825-1891) na segunda metade do século XIX pelo major Archer em terras de café desapropriadas, para combater a falta de água que se instalara na então capital do império. Trata-se de uma floresta secundária, uma vez que é fruto de replantio, compreendendo espécies que não são nativas da mata atlântica, a cobertura vegetal original. Data de 1859 até 1866 o funcionamento pioneiro da primeira linha de transporte em veículos sobre trilhos no Rio de Janeiro, com tração animal, anterior ao bonde elétrico, ligando o Largo do Rocio (Praça Tiradentes) a um local perto do bairro da Usina, mais tarde reconhecido como Muda, cobrindo um trajeto de 7 km. Nos Estados Unidos e na Europa, onde o processo de urbanização das cidades foi pioneiro, o subúrbio, foi e continua sendo o espaço destinado às elites e classes médias – uma espécie de refúgio contra os aglomerados urbanos insalubres e perigosos do período da industrialização. São bucólicos, ajardinados e de casas confortáveis.
O
Parque Nacional da Tijuca é uma unidade de conservação de proteção
integral da natureza localizada na cidade do Rio de Janeiro. Entre os pontos
turísticos do parque, trilhas, grutas e cachoeiras, encontram-se marcos famosos
da cidade, como a Pedra da Gávea, o Corcovado, e o Pico da Tijuca, ponto mais
alto do parque, elevando-se 1 022 metros acima do nível do mar. Com relevo
montanhoso, inclui áreas do Maciço da Tijuca. É administrado pelo Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A área é composta por
vegetação secundária, uma vez que é fruto de um reflorestamento promovido à
época do Segundo Reinado, quando se tornou patente que o desmatamento causado
pelas fazendas de café estava prejudicando o abastecimento de água potável da então
capital do Império. Vivem, no parque, mais de 230 espécies de animais e aves:
entre eles, macaco-prego, quati, cutia, cachorro-do-mato, sagui, beija-flor e
sabiá. O parque, que possui 3 972 hectares, é a quarta maior área verde urbana
do país, superada apenas pelo Parque Estadual da Cantareira (7 916,52
hectares), da Reserva Floresta Adolfo Ducke (10 mil hectares) em Manaus e do
Parque Estadual da Pedra Branca (12 500 hectares). Entertanto, a Tijuca é um
bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Está entre os bairros mais
antigos, tradicionais e populosos da capital fluminense.
Seu
índice de qualidade de vida, no ano 2000, era de 0,887, o 18º melhor do
município, dentre 126 bairros avaliados, considerado alto. Segundo dados
estatísticos estimados de 2019, possui 182.366 habitantes, sendo o maior da
Zona Norte. No peer ranking de bairros mais valorizados economicamente do
município, a Tijuca ocupa a 22ª posição estatisticamente, em dados de outubro
de 2022 e o bairro possui uma população de classe média e média-alta. Tijuca é
um bairro da Zona Norte do município do Rio de Janeiro. Está entre os bairros
mais antigos, tradicionais e populosos da capital fluminense. O Índice de
Progresso Social (IPS) é uma metodologia que avalia a qualidade de vida da
população no Brasil de forma multidimensional. No ranking IPS da
Prefeitura do Rio de Janeiro, a região administrativa da Tijuca onde se
localiza o bairro da Tijuca conta com índices de 79.5 para IPS; 85.8 para
necessidades humanas básicas; 70.6 para fundamentos do bem-estar; e 82.1 para
oportunidades, todos acima da média do município. Logo após a vitória dos
portugueses sobre os franceses no episódio da França Antártica, em 1565, comparativamente,
a região do atual bairro da Tijuca foi ocupada pelos padres jesuítas, que,
nela, instalaram imensas fazendas dedicadas ao cultivo da cana-de-açúcar, uma
capela a São Francisco Xavier que deu o nome à fazenda dos jesuítas do Centro da cidade carioca: a saber: Fazenda de São Francisco
Xavier.
Até
o início do século XX, essa acepção de subúrbio também se aplicava ao Rio de
Janeiro; onde o subúrbio era o local de nobreza – não tão refinada como
Botafogo ou o Engenho Velho, que eram bairros da aristocracia –, mas com
serviços voltados a essa classe, que também se dirigiam para lá com fins de
descanso. Foi a partir da reforma urbana do prefeito Pereira Passos (1836-1913),
em 1903, que o conceito de subúrbio “ganhou contornos mais ideológicos e
pejorativos no contexto do Rio de Janeiro”. Com a implantação de uma nova ordem
urbana no Centro da futura metrópole, associada também à expansão do mercado
imobiliário para as classes sociais altas à beira-mar, o proletariado do Centro
foi “expulso” para os subúrbios, que passaram a ser vistos como locais
estratégicos de escoamento dessa população marginalizada para bem longe do
Centro “civilizado”. Como não houve uma política de moralização da classe
trabalhadora nesse processo, o que favoreceu a emergência do caráter pejorativo
que o termo “subúrbio” emana no cenário carioca. Com base no conceito
pejorativo de subúrbio, como remetente à ideia de locais habitados por classes
socioeconômicas menos privilegiadas, pode-se inferir que a Tijuca e entorno, em
termos históricos, geográficos e especialmente ideológicos, não pode ser
considerada um subúrbio da cidade, mesmo fazendo parte da Zona Norte, onde se
localiza grande parte dos originais trilhos urbanos para delimitação dos subúrbios.
Originalmente aristocrática, a Tijuca é um bairro valorizado do Rio de Janeiro, berço de famílias
tradicionais e de uma classe média com bom poder aquisitivo, mesmo com o êxodo das décadas de 1980 e 1990.
O
bairro passou 20 anos “adormecido”, devido ao processo social de favelização,
que acabou sendo maior que no restante da cidade por questões geográficas; no
início da última década o bairro apresentou forte valorização imobiliária
devido a melhorias estruturais oriundas do poder público. Em 23 de agosto de
1985, o decreto 5.280 definiu os atuais limites do bairro. Rio de Janeiro, ou simplesmente
referido como “Rio”, é um município brasileiro, capital do estado homônimo,
situado no Sudeste do país. Um dos maiores destinos turísticos internacionais
no Brasil, na América Latina e também do Hemisfério Sul. A capital fluminense é
a cidade brasileira mais conhecida no exterior, funcionando como um espelho, ou
“retrato nacional”, seja positiva ou negativamente. É a segunda maior metrópole
do Brasil, depois de São Paulo, a sétima maior da América e a décima oitava do
mundo. Sua população segundo o censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia
Estatística era 6 211 223 habitantes. Tem o epíteto herdado do realismo mágico de
Cidade Maravilhosa, e os que nela nascem são chamados cariocas. Classificada
como uma metrópole, exerce influência nacional, seja do ponto de vista
cultural, econômico ou político brasileiros, e é um dos principais centros
econômicos, culturais e financeiros do país, sendo internacionalmente conhecida
por diversos ícones culturais e paisagísticos, como o Pão de Açúcar, o morro do
Corcovado com a estátua do Cristo Redentor, as praias dos bairros de
Copacabana, Ipanema e Barra da Tijuca, entre outras; os estádios do Maracanã e
Nilton Santos; o bairro boêmio da Lapa e seus arcos; o Theatro Municipal do Rio
de Janeiro; as florestas da Tijuca e da Pedra Branca; a Quinta da Boa Vista; a
Biblioteca Nacional; a fabulosa ilha de Paquetá, na baía da Guanabara; o réveillon de Copacabana; o carnaval
carioca; a Bossa Nova e o samba. Parte da cidade foi designada Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO em 1° de julho de 2012.
Representa
o segundo maior PIB do país e o 30º maior do mundo, estimado em cerca de
354,981 bilhões de reais (cf. IBGE/2023), e é sede das duas maiores empresas
brasileiras — a Petrobras e a Vale, e das principais companhias de petróleo e
telefonia do Brasil, além do maior conglomerado de empresas de mídia e
comunicações da América Latina, o Grupo Globo. Contemplado por grande número de
universidades e institutos, é o segundo maior polo de pesquisa e
desenvolvimento do Brasil, responsável por 19% da produção científica nacional,
segundo dados de 2005. Rio de Janeiro é considerada uma cidade global beta —
pelo inventário de 2008 da Universidade de Loughborough. A cidade foi,
sucessivamente, capital da colônia portuguesa do Estado do Brasil (1763–1815),
depois do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves (1815–1822), do Império do
Brasil (1822–1889) e da República dos Estados Unidos do Brasil (1889–1968) até
1960, quando a sede do governo foi transferida definitivamente para a
recém-construída Brasília. Naquele ano, o Rio foi transformado em uma
cidade-estado com o nome de Guanabara e, somente em 1975, torna-se a capital do Rio de Janeiro.
Uma forma de atividade generalizada que tomou lugar na vida social não pode, evidentemente, permanecer tão desregulamentada, em seu desempenho e atividade, sem que disso resulte os impactos sociais sobre a divisão do trabalho e as mais profundas perturbações. Mas sofrer no trabalho não é uma fatalidade. É, em particular, como decorre e testemunhamos, uma fonte de desmoralização geral real. Pois, precisamente porque as funções econômicas absorvem o maior número de cidadãos, para o pleno desenvolvimento da vida social, há uma multidão de indivíduos, como dizia Freud, cuja vida transcorre quase toda no meio industrial e comercial; a decorrência disso é que, como tal meio é pouco marcado pela moralidade, a maior parte da existência transcorre fora de toda e qualquer ação moral. A tese funcionalista expressa na pena de Émile Durkheim, como uma espécie de antídoto da civilização, e que o sentimento do dever cumprido se fixe fortemente em nós, é preciso que as próprias circunstâncias em que vivemos permanentemente desperto. A atividade de uma profissão só pode ser regulamentada eficazmente por “um grupo próximo o bastante dessa mesma profissão para conhecer bem seu funcionamento, para sentir todas as suas necessidades e poder seguir todas as variações destas”. O único grupo que corresponde a essas condições é o que seria formado por todos os agentes de uma mesma condição reunidos num mesmo corpo. E que a sociologia durkheimiana conceitua de corporação ou grupo profissional. É na ordem econômica que o grupo profissional existe tanto quanto a moral profissional. Desde que, não sem razão, com a supressão das antigas corporações, não se fizeram mais do que tentativas fragmentárias e incompletas para reconstituí-las em novas bases.
Os
únicos agrupamentos dotados de permanência são os que se chamam sindicatos,
seja de patrões, seja de operários. Historicamente, temos aí in statu nascendi
o começo e o princípio ético de uma organização profissional, mas ainda de
forma rudimentar. Isto porque, em primeiro lugar, um sindicato é uma associação
privada, sem autoridade legal, desprovida, por conseguinte, de qualquer poder
regulamentador. O número deles é teoricamente ilimitado, mesmo no interior de
uma categoria industrial; e, como cada um é independente dos outros, se não se
constituem em federação e se unificam, não há neles nada que exprima a unidade
da profissão em seu conjunto de práticas e saberes sociais. Não só os
sindicatos de patrões e de empregados são distintos uns dos outros, o que é
legítimo e necessário, como não há entre eles contatos regulares. Não existe
organização comum que os aproxime sem fazê-los perder sua individualidade e na
qual possam elaborar em comum uma regulamentação que, estabelecendo suas
relações mútuas, imponha-se a ambas as partes com a mesma autoridade; por
conseguinte, é sempre a “lei dos mais forte” que resolve os conflitos, e o
estado de guerra subiste inteiro. Salvo no caso de seus atos pertencentes à
esfera moral comum estão na mesma situação. A tese sociológica é a seguinte:
para que uma moral e um direito profissionais possam se estabelecer nas
diferentes profissões, é necessário, pois, que a corporação, em vez de
permanecer um agregado confuso e sem unidade, se torne, ou antes, volte a ser,
um grupo definido, organizado, uma instituição pública qualquer.
A
primeira observação familiar da crítica de Émile Durkheim, é que a corporação
tem contra si seu próprio passado histórico. De fato, ela é tida como
intimamente solidária do antigo regime político e, por conseguinte, como
incapaz de sobreviver a ele. Na história da filosofia, o que permite considerar
as corporações uma organização temporária, boa apenas para uma época e uma
civilização determinada, é, ao mesmo tempo, sua grande antiguidade e a maneira
como se desenvolveram na história. Se elas datassem unicamente da Idade Média,
poder-se-ia crer, de fato que, nascidas com um sistema político, deviam
necessariamente desaparecer com ele. Mas, na realidade, têm uma origem bem mais
antiga. Em geral, elas aparecem desde que as profissões existem, isto é, desde
que a atividade deixa de ser puramente agrícola. Se não parecem ter sido
conhecidas na Grécia, até o tempo da conquista romana, é porque os ofícios,
sendo desprezados, eram exercidos exclusivamente por estrangeiros e, por isso
mesmo, achavam-se excluídos da organização legal da cidade. Mas em Roma,
comparativamente, elas datam pelo menos dos primeiros tempos da República; uma
tradição chegava até a atribuir sua criação ao rei Numa, um sabino escolhido
como segundo rei de Roma. Sábio, pacífico e religioso, dedicou-se a elaboração
das primeiras leis de Roma, assim como dos primeiros ofícios religiosos da
cidade e do primeiro calendário. É verdade que, por tempo, elas tiveram de
levar uma existência bastante humilde, pois os historiadores e os monumentos só
raramente as mencionam; não sabemos muito bem como eram organizadas. Desde de
Cícero, sua quantidade tornara-se considerável e elas começavam a desempenhar
um papel. Nesse momento afirma J.-P Waltzing (1857-1929), “todas
as classes de trabalhadores parecem possuídas pelo desejo de multiplicar as
associações profissionais” (Apud Durkheim, 2010).
Mas
o caráter desses agrupamentos se modificou; eles acabaram tornando-se
“verdadeiras engrenagens da administração” (cf. Altbach, 2004).
Desempenhavam funções oficiais; cada profissão era vista como um serviço
público, cujo encargo e cuja responsabilidade ante o Estado cabiam à corporação
correspondente. Foi a ruína da instituição. Porque, segundo Durkheim, essa
dependência em relação ao Estado não tardou a degenerar numa servidão
intolerável que os imperadores só puderam manter pela coerção. Todas as sortes
de procedimentos foram empregadas para impedir que os trabalhadores escapassem
das pesadas obrigações que resultavam, para eles, de sua própria profissão.
Evidentemente, tal sistema de trabalho só podia durar enquanto o poder político
fosse o bastante para impô-lo. É por isso que ele não sobreviveu à dissolução
do Império. Aliás, as guerras civis e as invasões haviam destruído o comércio e
a indústria; os artesãos aproveitaram essas circunstâncias para fugir das
cidades e se dispersar nos campos. Assim, os primeiros séculos de nossa era
viram produzir-se um fenômeno que devia se repetir tal qual no fim do século
XVII: a vida corporativa se extinguiu quase por completo. Mal subsistiram
alguns vestígios seus, na Gália e na Germânia, nas cidades de origem romana.
Portanto, naquele momento, um teórico tivesse tomado consciência da situação,
teria provavelmente concluído, como o fizeram mais tarde os economistas, que as
corporações não tinham, ou, em todo caso, não tinham mais razão de ser, que
haviam desaparecido irreversivelmente, e sem dúvida teria tratado de retrógrada
e irrealizável toda tentativa de reconstituí-las. Os acontecimentos
desmentiriam uma tal profecia. De fato, após um “eclipse da razão” de algum
tempo caminhando para os nossos dias, as corporações recomeçaram nova
existência em todas as sociedades europeias.
Elas
renasceram por volta dos séculos XI e XII. Desde esse momento, diz Emile
Levasseur, “os artesãos começam a sentir a necessidade de se unir e formam suas
primeiras associações”. Em todo caso, no
século XII, elas estão outra vez florescentes e se desenvolvem até o dia em que
começa para elas uma nova decadência. Uma instituição tão persistente assim não
poderia depender de uma particularidade contingente e acidental; muito menos
ainda é possível admitir que tenha sido o produto de não sei que “aberração
coletiva”. Se, desde a origem da cidade até o apogeu do Império, desde o
alvorecer das sociedades cristãs aos tempos modernos, elas foram necessárias, é
porque correspondem a necessidades duradouras e profundas. Sobretudo, vale
lembrar que o próprio fato de que, depois de terem desaparecido uma primeira
vez, reconstituíram-se por si mesmas e sob uma nova forma, retira todo e
qualquer valor ao argumento que apresenta sua desaparição violenta no fim do
século passado como uma prova de que não estão mais em harmonia com as novas
condições de existência coletiva. A necessidade que todas as grandes sociedades
civilizadas sentem de chamá-las de volta à vida é o mais seguro sintoma
evidente dessa supressão radical não era um remédio e de que a reforma de
Jacques Turgot (172701781) requeria outra que não poderia ser indefinidamente adiada. Mas
nem toda organização corporativa é um anacronismo histórico. Acreditamos que ela
seria chamada a desempenhar, nas sociedades contemporâneas, menos pelo papel
considerável que julgamos indispensável, por causa não dos serviços econômicos
que ela poderia prestar, mas da influência moral que poderia ter. O que vemos antes de mais nada no grupo
profissional é um poder moral capaz de conter os egoísmos individuais, de
manter no coração dos trabalhadores um sentimento vivo de solidariedade comum,
de impedir que a “lei do mais forte” se aplique de maneira brutal nas relações
industriais e comerciais.
Mas
é preciso evitar estender a todo regime corporativo o que pode ter sido válido
para certas corporações e durante um curto lapso de tempo de seu
desenvolvimento. Longe de ser atingido por uma sorte de enfermidade moral
devida à sua própria constituição, foi sobretudo um papel moral que ele
representou e continua representando ainda, na maior parte de sua história.
Isso é particularmente evidente no caso das corporações romanas. Sem dúvida, a
associação lhes dava mais forças para salvaguardar, se necessário, seus
interesses comuns. Mas era isso apenas um dos contragolpes úteis que a
instituição produzia, lembra Durkheim: “não era sua razão de ser, sua função
principal. Antes de mais nada, a corporação era um colégio religioso”. Cada uma
tinha seu deus particular, cujo culto quando ela tinha meios, era celebrado num
templo especial. Do mesmo modo que cada família tinha seu Lar familiaris,
cada cidade seu Genius publicus, cada colégio tinha seu “deus tutelar”, Genius
collegi. Naturalmente, o culto profissionalmente não se realizava sem
festas, que ipso facto eram celebradas em comum sem sacrifícios e
banquetes. Todas as espécies de circunstâncias serviam, aliás, de ocasião para
alegres reuniões, além disso, distribuições de víveres ou de dinheiro ocorriam
com frequência às expensas da comunidade. Indagou-se se a corporação tinha uma
caixa de auxílio, se ela assistia regularmente seus membros necessitados, e as
opiniões a esse respeito são divididas. Mas o que retira da discussão parte de
seu interesse e alcance é que esses banquetes, mais ou menos
periódicos, e as distribuições que os acompanharam serviam de auxílios e faziam
não raro as vezes de uma assistência direta. Os infortunados sabiam que podiam
contar com essa subvenção dissimulada. Como corolário do caráter religioso, o
colégio de artesãos era, ao mesmo tempo, um colégio funerário. Unidos, como
gentiles, num mesmo culto durante sua vida, os membros da corporação queriam,
como eles, dormir juntos seu derradeiro sono.
A importância tão considerável que a religião tinha em sua vida, tanto em Roma quanto na Idade Média, põe particularmente em evidência a verdadeira natureza de suas funções; porque toda comunidade religiosa constituía, então, um ambiente moral, do mesmo modo que toda disciplina moral tendia necessariamente a adquirir uma forma religiosa. A partir do instante em que, no seio de uma sociedade política, certo número de indivíduos tem em comum ideias, interesses, sentimentos, ocupações que o resto da população não partilha com eles, é inevitável que, sob a influência dessas similitudes eles sejam atraídos uns para os outros, que se procurem, teçam relações, se associem e que se forme assim, pouco a pouco, um grupo restrito, com sua fisionomia especial da sociedade em geral. Porque é impossível que homens vivam juntos, estejam regularmente em contato, sem adquirirem o sentimento do todo que formam por sua união, sem que se apeguem a esse todo, se preocupem com seus interesses e o levem em conta em sua conduta. Enfim, basta que esse sentimento se precise e se determine, que, aplicando-se às circunstâncias mais ordinárias e mais importantes da vida, se traduza em fórmulas definidas, para que se tenha um corpo de regras morais em via de se constituir. Ao mesmo tempo que se produz por si mesmo e pela força das coisas, esse resultado é útil e o sentimento de sua utilidade contribui para confirma-lo. A vida em comum é atraente, ao mesmo tempo que coercitiva. Para o ponto de vista conservantista do método analítico durkheimiano, a coerção é necessária para levar o homem a se superar, a acrescentar à sua natureza física outra natureza; mas, à medida que aprende a apreciar os encantos dessa nova existência, ele contrai a sua necessidade e não há ordem de atividade que não os busque com paixão.
A moral doméstica não se formou de outro modo. Por causa do prestígio que a família conserva ante nossos olhos, parece-nos que, se e ela foi e é sempre uma escola de dedicação e de abnegação, o foco por excelência da moralidade, é em virtude de características bastante particulares que teria o privilégio e que não se encontrariam em ouro lugar em nenhum grau. Costuma-se crer que exista na consanguinidade uma causa excepcionalmente poderosa de aproximação moral. A prova está em que, num sem-número de sociedades, os não-consanguíneos são muitos no seio da família; o parentesco dito artificial se contrai então com grande facilidade e exerce todos os efeitos do parentesco natural. Inversamente, acontece com grande frequência consanguíneos bem próximos serem, moral ou juridicamente, estranhos uns aos outros; é, por exemplo, o caso dos cognatos na família romana. Portanto, a família não deve suas virtudes à unidade de descendência: ela é, simplesmente, um grupo de indivíduos que foram aproximados uns dos outros, no seio da sociedade política, por uma comunidade mais particularmente estreita de ideias, sentimentos e interesses. A consanguinidade pode ter facilitado essa concentração, pois ela tem por efeito natural inclinar as consciências umas em relação às outras. Outros fatores intervieram: a proximidade material, a solidariedade de interesses, a necessidade de união contra um perigo comum, ou simplesmente de se unir, foram causas muito mais poderosas de comunicação social no processo produtivo.
Mas,
para dissipar todas as prevenções, adverte Durkheim, para mostrar bem que o
sistema corporativo não é apenas uma instituição do passado, seria necessário
mostrar que transformações ele deve e pode sofrer para se adaptar às sociedades
modernas, pois é evidente que ele não pode ser o que era na Idade Média. Para
tanto, seriam necessários estudos comparativos que não estão feitos e que não
podemos fazer de passagem. Talvez, porém, não seja impossível perceber desde
já, mas apenas em suas linhas mais gerais, o que foi esse desenvolvimento. O
historiador que empreende resolver em seus elementos a organização política dos
romanos não encontra, no decurso de sua análise, nenhum fato que possa
adverti-lo da existência das corporações. Elas não entravam na constituição
romana, na qualidade de unidades definidas e reconhecidas. Em nenhuma das
assembleias eleitorais, em nenhuma das reuniões do exército, os artesãos se
reuniam por colégios, em parte alguma o grupo profissional tomava parte, como
tal, na vida pública, seja em corpo, seja por intermédio de representantes
regulares. No máximo, a questão pode se colocar a propósito de três ou quatro
colégios que se imaginou poder identificar com algumas das centúrias
constituídas por Sérvio Túlio, a saber: tignari (construtores de casas),
aerari (corporação clerical), tibicines (monumento funerário),
corporações cornicínes (pizza enrolada), mas o fato não está bem
estabelecido.
Quanto
às outras corporações, estavam certamente fora da organização oficial do povo
romano. Ora, por muito tempo os ofícios não foram mais do que uma forma
acessória e secundária da atividade social dos romanos. Roma era essencialmente
uma sociedade agrícola e guerreira. No primeiro era dividida em gentes e em
cúrias; a assembleia por centúrias refletia antes a organização militar. Quanto
às funções industriais, eram demasiado rudimentares para afetar a estrutura
política da cidade. Aliás, até um momento bem avançado da história romana, os
ofícios permaneceram marcados por um descrédito moral que não lhes permitia
ocupar uma posição regular no Estado. Sem dúvida, veio um tempo em que sua
condição social melhorou. Mas a própria maneira como foi obtida essa melhora é
significativa. Para conseguir fazer respeitar seus interesses e desempenhar um
papel na vida pública, os artesãos tiveram de recorrer a procedimentos
irregulares e extralegais. Só triunfaram sobre o desprezo de que eram objeto
por meios de intrigas, complôs, agitação clandestina. E, se, mais tarde,
acabaram sendo integrados ao Estado para se tornar engrenagens da máquina
administrativa, essa situação como foi, para eles, uma conquista gloriosa, mas
uma penosa dependência; se entraram então no Estado, não foi para nele ocupar a
posição a que seus serviços sociais podiam lhes dar direito, mas simplesmente
para poder ser mais bem vigiados pelo poder governamental.
Quando
as cidades se emanciparam da tutela senhorial, quando a comuna se formou, o
corpo de ofícios, que antecipara e preparara esse movimento, tornou-se a base
da constituição comunal. De fato, segundo J.-P Waltzing, “em quase todas as
comunas, o sistema político e a eleição dos magistrados baseiam-se na divisão
dos cidadãos em corpos de ofícios”. Era costumeiro votar-se por corpos de
ofícios e elegiam-se ao mesmo tempo os chefes da corporação e os da comuna. –
Em Amiens, por exemplo, os artesãos se reuniam todos os anos para eleger os
prefeitos de cada corporação ou bandeira (bannière); os prefeitos eleitos
nomeavam em seguida doze escabinos, que nomeavam outros doze, e o escabinato
apresentava, por sua vez, aos prefeitos das bandeiras três pessoas, dentre as
quais eles escolhiam o prefeito da comuna... Em algumas cidades, o modo de
eleição era ainda mais complicado, mas, em todas, a organização política e
municipal era intimamente ligada á organização do trabalho. Inversamente, assim
como a comuna era um agregado de corpos de ofícios, o corpo de ofício era uma
comuna em miniatura, pelo próprio fato de que fora o modelo do qual a
instituição comunal era a forma ampliada e desenvolvida. Queremos dizer com
isso, que sabemos o que a comuna foi na história de nossas sociedades, de que
se tornou, com o tempo, a pedra angular. Ipso facto, já que era uma reunião de
corporações e que se formou com base no tipo da corporação, foi esta em última
análise, que serviu de base a todo o sistema político oriundo do movimento
comunal. Vê-se que, em sua trajetória, ela cresceu singularmente em importância
e dignidade. Em Roma, começou estando quase fora dos contextos normais, ela
serviu de marco elementar para sociedades contemporâneas. É um motivo para que
recusemos a considera-la uma instituição arcaica, destinada a desaparecer.
A
obra do sociólogo não é a do homem público, assevera Émile Durkheim. O que a
experiência do passado demonstra, antes de mais nada, é que os marcos do grupo
profissional devem guardar sempre uma relação com os marcos da vida econômica;
foi por ter faltado com essa condição que o regime corporativo desapareceu.
Portanto, já que o mercado, de municipal que era, tornou-se nacional e
internacional, a corporação deve adquirir a mesma extensão. Em vez de ser
limitada apenas aos artesãos de uma cidade, ela deve ampliar-se, de maneira a
compreender todo os membros da profissão, dispersos em toda a extensão do
território, porque, qualquer que seja a região em que se encontram, quer no
campo, todos são solidários uns com os outros e participam da vida comum. Já
que essa vida comum é, sob certos aspectos, independentemente de qualquer
determinação territorial, tem que ser criado um órgão apropriado, que a exprima
e regularize seu funcionamento. Por causa de suas dimensões sociais, tal órgão
estaria necessariamente em contato relacional com o órgão central da vida
coletiva, pois os acontecimentos importantes o bastante para envolverem toda
uma categoria de empresas industriais num país tem necessariamente repercussões
bastante gerais, que o Estado não pode sentir, o que o leva a intervir. Não foi
sem fundamento que o poder real tendeu indistintamente a não deixar fora de sua
ação a grande indústria. Era impossível que ele se desinteressasse por uma
forma de atividade que por sua natureza, é capaz de afetar o conjunto da
sociedade. Essa organização unitária para o conjunto de um mesmo país não
exclui, de modo algum, a formação de órgãos secundários, que compreendam os
trabalhadores similares de uma mesma região ou localidade, e cujo papel seria
especializar ainda mais a regulamentação profissional segundo as necessidades
locais ou regionais. A vida econômica poderia ser regulada e determinada, sem
nada perder de sua diversidade. Por isso mesmo, o regime corporativo seria
protegido contra essa propensão ao imobilismo, que lhe foi frequente e
justamente criticada no passado, porque é um defeito que resultava do caráter
estreitamente comunal da corporação.
Bibliografia
Geral Consultada.
SCHWARCZ, Lilia Moritz, “Complexo de Zé Carioca: Notas Sobre uma Identidade Mestiça e Malandra”. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais, Vol. 10, n° 29, out. de 1995; NOLASCO, Sócrates, O Mito da Masculinidade. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 1995; CORRÊA, Mariza, “Sobre a Invenção da Mulata”. In: Cadernos Pagu (6-7) 1996: pp.35-50; DA MATTA, Roberto, Carnavais, Malandros e Heróis: Para uma Sociologia do Dilema Brasileiro. Rio de Janeiro: Zahar Editor, 1997; CERTEAU, Michel, L`Invenzione del Quotidiano. Roma: Edizione Lavoro, 2000; FENERICK, José Adriano, Nem do Morro, Nem da Cidade: As Transformações do Samba e a Indústria Cultural (1920-1940). Tese de Doutorado em História Econômica. São Paulo: Universidade Estadual de São Paulo, 2002; HOBSBAWM, Eric; RANGER, Terence (Org.), A Invenção das Tradições. 6ª edição. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 2008; DURKHEIM, Émile, Da Divisão do Trabalho Social. 4ª edição. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2010; WEISS, Raquel Andrade, Émile Durkheim e a Fundamentação Social da Moralidade. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Filosofia. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2010; ERICEIRA, Ronald Clay dos Santos, A Mulher é a Tal: Visões de Compositores de Marchinhas Carnavalescas sobre as Mulheres no Rio de Janeiro dos Anos de 1930 e 1940. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social. Instituto de Psicologia. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2010; OSTOS, Natascha Stefania Carvalho, “Terra Adorada, Mãe gentil: l’Image de la Nature et du Féminin dans la Construction de l’Idée de Brésil-nation (1930-1945)”. In: Cahiers des Amériques Latines, 82; 2016, 155-170; TIBURI, Márcia, Complexo de Vira-lata: Análise da Humilhação Colonial. Rio de Janeiro: Editor José Olympio, 2021; CAMARGO, Claudia Regina, Literatura e Hipertexto: A Não Linearidade e a Formação do (Hiper)leitor. Tese de Doutorado. Programa de Doutorado em Teoria Literária. Curitiba: Centro Universitário Campos de Andrade, 2023; MIQUELUTTI, Guilherme, “Lamartine Babo, Mário Reis, Isaurinha Garcia”. In: https://www12.senado.leg.br/radio/2025/01/31; entre outros.