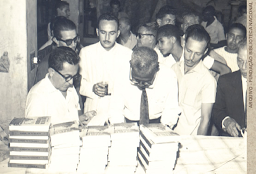Ubiracy de Souza Braga
“Liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem”. Barão de Montesquieu
O pensamento de Montesquieu
representa certo “paradoxo de consequências não intencionais” entre o novo e o
tradicional. Múltipla e guiada por uma espécie de curiosidade universal, parece
estar em continuidade direta com os ensaístas que o precederam nos comentários
sobre os usos e costumes dos diversos povos. Com traços de enciclopedismo,
várias disciplinas lhe atribuem o caráter referencial de precursor, ora
aparecendo como Pai da Sociologia, ora como inspirador do chamado “determinismo
geográfico”, e quase sempre como aquele que, na ciência política, desenvolveu a
teoria dos três poderes, que ainda permanece como uma das condições de
funcionamento do Estado de direito. De outra parte, dentro da história do
pensamento, Montesquieu também ocupa posição paradoxal. Sua obra trata da
questão do funcionamento dos regimes políticos, questão que encara dentro da
ótica liberal, ambas as problemáticas consideradas típicas de um período
posterior. Montesquieu é membro da nobreza que não tem como objeto de
reflexão política a restauração do poder de sua classe, mas sim como tirar proveito de certas características de poder monárquicos, para dotar
de maior estabilidade os regimes que viriam a resultar das revoluções
democráticas.
Vale lembrar que um símbolo de alternativas sociais e políticas, o
Dia da Bastilha celebrado anualmente
a 14 de Julho (14 Juillet) em memória ao histórico da Tomada da Bastilha, em
1789, quando teve início o caráter popular da Revolução Francesa, amplifica com
maior impacto do que a Declaração da Independência dos Estados Unidos da
América demonstrando a possibilidade de emancipação vista com medo em toda a
aristocracia europeia, enquanto partidários das mudanças revolucionárias
esperavam remover as barreiras que tolhiam a burguesia e o livre desenvolvimento
das forças produtivas do capital. Os princípios da liberdade, igualdade e
fraternidade foram os conceitos utilizados pelos liberais para justificar
teoricamente o desenvolvimento do capitalismo na Europa. A forma como essas
ideias vieram para o solo norte-americano também são indispensáveis para a
compreensão da estrutura piramidal social que é majoritária hoje. Essas análises
da sociologia política tendo como referência a obra de Montesquieu permitem
formular os principais problemas de teoria
no âmbito geral da sociologia. O primeiro deles tem a ver com a inserção da
sociologia política na sociologia do conjunto social. A questão é comparável à
que se colocam a propósito do marxismo, quando se quer passar de aspecto
privilegiado – para a compreensão do todo.
O segundo problema é o da relação entre o fato e valor, entre a compreensão das instituições e a determinação do regime desejável ou bom. Assim, de que modo se pode ao mesmo tempo apresentar certas instituições como determinadas, isto é, impostas à vontade dos homens e fazer julgamentos políticos sobre elas? Será possível, para um sociólogo, afirmar que um regime que ele considera, em certos casos, como inevitável, contrariar a natureza humana? O terceiro problema é o que institui no plano de análise política as relações entre o universalismo racional e as particularidades históricas concretas. Portanto, existem em Montesquieu,
implícita ou explicitamente, duas ideias de síntese possíveis. Uma seria a
influência predominante do regime político, e a outra, o espírito geral de uma
nação. Em relação á primeira – a influência predominante das instituições
políticas – pode-se hesitar entre duas interpretações. Trata-se de uma
influência predominante no sentido causal do termo ou de uma influência
predominante com relação ao que interessa ao analista, com relação aos nossos
valores, isto é, com relação à hierarquia da importância que estabelecemos
entre diferentes aspectos da vida coletiva. O espírito geral de uma nação é o
que mais contribui para manter esse sentimento ou princípio, indispensável à
continuidade do regime. O espírito geral de uma nação não pode ser comparado à vontade criadora de
uma pessoa ou coletividade. Para analisar esses problemas, será melhor tomar
como ponto de partida uma noção central de L`Esprit
des lois, a própria noção de Lei.
Afinal, a grande obra de
Montesquieu se chama L´ Esprit des lois,
e é na análise da noção, ou das noções de lei que encontramos a resposta para
os problemas que formulamos da política à sociologia. Montesquieu introduz o conceito de
lei no início de sua obra fundamental, O
espírito das leis, para escapar a uma discussão viciada que dentro da
tradição jurídica de seu período, ficaria limitada a discutir as instituições e
as leis quanto à legitimidade de sua origem, sua adequabilidade à ordem natural
e a perfeição de seus fins. Uma discussão fadada a confundir, nas leis,
concepções de natureza política, moral e religiosa. Definindo lei como “relações
necessárias que derivam da natureza das coisas”, ele estabelece uma mediação
com as ciências empíricas rompendo com a tradicional submissão da política à
teologia, em termos de análise comparativa, que é
possível uniformidade, constâncias na variação dos comportamentos e
formas de organizar os homens, assim como é possível encontra-las nas relações
entre os corpos físicos. Também as leis que regem os costumes e as instituições
são relações que derivam da natureza das coisas que sustentam as bases da
tipologia analítica na interpretação do fato à política e sociologia para
Montesquieu.
Para o que nos interessa é com o
conceito de lei, que Montesquieu traz a política para fora do campo da teologia
e da crônica, e a insere num campo propriamente teórico. Estabelece uma regra de imanência que incorpora a teoria
política ao campo das ciências: as instituições políticas são regidas por leis
que derivam das relações políticas. As leis que regem as instituições políticas
são relações próprias entre as diversas classes em que se divide a população,
as formas de organização econômica, as formas de distribuição do poder etc. Mas
o objeto de pensamento de Montesquieu não são as leis que regem as relações entre os homens
em geral, mas as leis positivas, isto
é, as leis e instituições criadas pelos homens para reger as relações determinadas
entre os homens. Ele observa que, ao contrário dos outros seres, os homens têm
a capacidade de se furtar às leis da razão que deveriam reger suas relações, e,
além disso, adotam leis escritas e costumes destinados a reger os
comportamentos humanos. E têm também a capacidade de furtar-se igualmente às
leis e instituições. O objetivo de Montesquieu é o espírito das leis, isto é,
as relações entre as leis (positivas) e “diversas coisas”, tais como o clima,
as dimensões do Estado, a organização do comércio, as relações entre as classes
etc.
Montesquieu
tenta explicar as leis e instituições humanas, sua permanência e modificações, a
partir de leis da ciência política. Os pensadores políticos que precedem
Montesquieu (e Rousseau, que o sucede) são teóricos do Contrato Social (ou do Pacto),
estão fundamentalmente preocupados com a natureza do poder político, e tendem a
reduzir a questão da estabilidade do poder à sua natureza. Ao romper com o
estado de natureza, onde a ameaça de guerra de “todos contra todos” põe em risco
a sobrevivência da humanidade, o pacto
que institui o estado de sociedade deve ser tal que garanta a estabilidade
contra o risco de anarquia ou de despotismo. O que deve ser investigado não é,
portanto, a existência de instituições propriamente políticas, mas sim a
maneira como elas funcionam. Assim ele vai considerar duas dimensões do
funcionamento político das instituições: a natureza e o princípio de governo.
Sua natureza diz respeito a quem detém o poder: na monarquia, um só governa,
através de leis fixas e instituições; na república, governa o povo no todo ou
em parte (repúblicas aristocráticas); no despotismo, governa a vontade de um
só. As análises sobre as “leis relativas à natureza do governo” deixam claro
que se trata de relações entre as instâncias de poder e a forma como o poder se
distribui, entre os diferentes grupos e classes da população.
Conhecemos
a longa história do conceito de Lei: um legislador e súditos. A lei possuía
assim a estrutura da ação humana consciente: tinha um objetivo, designava uma
finalidade, ao mesmo tempo de exigia uma espera. Para os sujeitos que viviam
sob a lei, oferecia o equívoco do constrangimento e do ideal. A ideia de que a
natureza podia ter leis que não eram ordens, levou tempo a libertar-se desta
herança. Este longo esforço consegue, no século XVIII, encontrar um domínio
próprio para o novo sentido de lei: o da natureza, o da física. Ao abrigo
decerto de Deus, que lá pelas alturas protegia ainda a antiga forma da lei,
salvando as aparências, desenvolvia uma nova forma de lei, que a pouco e pouco,
passando de Descartes a Newton, tomou a forma que Montesquieu enuncia: Uma
relação constantemente estabelecida entre termos variáveis, e tal que cada
diversidade é uniformidade, cada transformação, constância. Isto é importante.
O
antigo domínio da lei, que é ordem e fim enunciados por um senhor, conservava
as suas posições de origem: o domínio da lei moral (ou natural), o domínio das
leis humanas. Ora, Montesquieu propõe que se rejeite a antiga acepção da
palavra lei, dos domínios em que ela consideravelmente imperava. E que se
consagre para a totalidade dos seres, de Deus á pedra, o reino da definição moderna:
a lei-relação. Neste sentido, todos
os seres têm as suas leis: a divindade tem as suas leis, o mundo material tem
as suas leis, as inteligências superiores ao homem têm as suas leis, os animais
têm as suas leis, o homem tem as suas leis. O melhor meio para aniquilar o
adversário é colocarmo-nos ao lado dele. Perscrutar os antigos domínios. Ei-los
abertos diante de Montesquieu, e para começar o mundo inteiro da existência dos
homens nas suas cidades e na sua história. Finalmente, vai poder impor-lhes a
sua lei. No momento da descoberta será apenas a hipótese metodológica e só se
tornará princípio se verificada.
Mas
esta revolução teórica supõe igualmente que não se confunda o objeto da
investigação científica, neste caso as leis civis e políticas das sociedades
humanas com os resultados da investigação em si: não se pode brincar com a
palavra lei. Montesquieu afirma: - Não trato das leis, mas do espírito das leis. Este espírito
consiste em diversas relações que as leis podem ter com diversas coisas. Ele
não confunde, portanto as leis do seu objeto (o espírito das leis), com o seu
objeto em si (as leis). No Livro-Primeiro, após ter demonstrado que todos os seres
do universo, inclusive Deus, estão submetidos a leis-relações, Montesquieu encara a diferença de modalidade destas
leis. Distingue assim as leis que governam a matéria inanimada e que nunca
conhecem qualquer espécie de variação, das leis que regulam os animais e os
homens. O mundo inteligente deve ser tão bem governado como o mundo físico.
Assim o homem, que tem sobre os outros seres o privilégio do conhecimento, está
à mercê do erro e das paixões. Daí as suas oscilações: como ser inteligente que
é o homem viola constantemente as leis estabelecidas por Deus, e do mesmo modo
transforma as que ele próprio estabeleceu.
O
princípio de governo é a paixão que o movo, é o modo de funcionamento dos
governos, melhor dizendo, como o poder é exercido. São três os princípios, cada
um correspondendo em tese a um governo. Em tese, porque, segundo Montesquieu, ele
não afirma que “toda república é virtuosa, mas sim que deveria sê-lo” para
poder ser estável. Curiosa paixão que tem três modalidades: o princípio da
monarquia é a honra; o da república é a virtude; e o do despotismo é o medo.
Esta é a única paixão propriamente dita, o único móvel psicológico dos
comportamentos políticos, razão por que o regime que lhe corresponde é um
regime que se situa no limiar do fazimento da ação política: o despotismo seria menos do que um
regime político, quase uma extensão do estado de violência bruta da natureza, onde os homens atuam
movidos pelos instintos e orientados para a sobrevivência. A honra é uma paixão social. Ela corresponde a um
sentimento afetivo de classe, a paixão da desigualdade, o amor aos privilégios
e prerrogativas que caracterizam a nobreza.
O
governo de um só baseado em leis fixas e instituições permanentes, com poderes
intermediários e subordinados – tal como Montesquieu caracteriza a monarquia -,
só pode funcionar se estes poderes intermediários orientarem sua ação pelo
princípio da honra. É através da honra que a arrogância e os apetites desenfreados
da nobreza bem como o particularismo dos seus interesses se traduzem em bem
público. Só a virtude é uma paixão
propriamente política: ela nada mais é do que o espírito cívico, a supremacia
do bem público sobre os interesses particulares. É por isso que a virtude é o
princípio da república. Para Montesquieu, república e despotismo são iguais num
ponto essencial, pois em ambos os governos todos são iguais. A diferença é que
nos regimes populares o povo é tudo e, no despotismo, comparativamente, nada é.
A combinação do princípio com a natureza do regime permite-nos entender melhor
a teoria dos três governos. No governo republicano o regime depende dos homens.
Sem republicanos não se faz uma república. Os grandes não a querem e o povo não
sabe mantê-la. Trata-se de um regime aparentemente muito frágil porque repousa
na virtude dos homens.
Quanto
ao tempo do despotismo, ele é o
contrário da duração: o instante. O despotismo não só não conhece nenhuma
instituição, nenhuma ordem, nenhuma família que durem, mas os seus próprios atos brotam no instante. A honra, por exemplo, não é uma paixão “psicológica” é
uma paixão simples, ou se se preferir, não é uma paixão “psicológica”. A honra
é caprichosa como todas as paixões, mas os seus caprichos são dirigidos: tem as suas leis e o seu
código. Não seria mesmo necessário pressionar Montesquieu para lhe fazer
confessar que a essência da monarquia é a desobediência, mas uma desobediência dirigida. A honra é, portanto, uma
paixão refletida na sua própria intransigência. Por muito tempo “psicológica”,
muito imediata que se queira, a honra é uma paixão educada pela sociedade, uma
paixão cultivada e, se é ilícito arriscar o termo, uma paixão cultural e
social. O mesmo diríamos acerca da virtude na república. Também ela é uma
estranha paixão que nada tem de imediato, mas sacrificam no homem os seus
próprios desejos para lhe dar o bem como objetivo. A virtude define-se como a
paixão do geral. E Montesquieu mostra-nos com benevolência esses monges
transferindo na generalidade das suas ordens as paixões particulares que
reprimem em si próprios. Como a honra, a virtude tem, pois o seu código e as
suas leis. Ou melhor, tem a sua lei, uma lei única: o amor a pátria. A esta paixão
do universal falta uma escola universal: a de toda a vida. À questão socrática,
de saber se é possível ensinar a virtude, Montesquieu responderia que se deve e
que o único destino da virtude é
precisamente o de ser ensinada. A paixão que sustenta o despotismo não conhece
esse dever.
Em
todo povo existem homens virtuosos, capazes de colocar o bem público acima do
bem próprio, mas as circunstâncias – isto é, essas famosas “relações que
derivam da natureza das coisas” – nem sempre ajudam. O comércio, os costumes, o
gosto pelas riquezas, o tamanho do país, as dimensões da população, tudo o que
contribui para diversificar o povo e aumentar a distância cultural e de interesses
entre as suas classes, conspira para a prevalência do bem público. É
precisamente este ser errante através de sua história, que é o objeto da sua
história, que é o objeto das investigações de Montesquieu: um ser cuja conduta
nem sempre obedece às leis que lhe são dadas, e que, além disso, pode ter leis
particulares feitas por ele: as leis positivas, sem que isso queira dizer que
as respeite. Pode-se de fato dar desta distinção da modalidade das leis duas
interpretações diferentes, que representam duas tendências no próprio
Montesquieu. Na primeira, poder-se-á dizer: com base no princípio metodológico
segundo o qual as leis de relação e variação que se podem extrair das leis
humanas são distintas dessas leis, pois, pois fora de dúvida, os erros e as
oscilações dos homens relativamente às suas próprias leis de nada põem em
causa. Para se perder a coragem de descobrir as leis de conduta dos homens, é
preciso cair na ingenuidade de tomar as leis que os homens se dão a si próprios
pela necessidade que os governa!
Na
verdade, o erro, a aberração dos humores, a transformação e a violação das leis
por eles próprios criadas, fazem parte pura e simplesmente da conduta dos homens. É
precisamente isso que Montesquieu faz em quase todos os capítulos do Esprit de Lois. O que seria revolucionário em ocorre
na explicação sociológica das leis positivas, o determinismo aplicado á
natureza social. A lógica de seu pensamento comportaria apenas três elementos:
a observação da diversidade das leis positivas, a explicação dessa diversidade
em função das causas múltiplas, e, por fim, os conselhos práticos dados ao
legislador, com base na explicação científica das leis. Nesse caso Montesquieu
seria um verdadeiro sociólogo positivista, que explica aos homens porque eles
vivem de determinada maneira. O sociólogo compreende os outros homens melhor do
que eles próprios se compreendem; descobre as causas que explicam a forma
assumida pela existência coletiva em diferentes climas e em épocas diferentes;
ajuda cada sociedade a viver de acordo com sua própria essência, isto é, de
acordo com seu regime, seu clima, seu espírito geral. Os juízos de valor,
sociologicamente, estão sempre subordinados ao objetivo que adotamos, e que é
sugerido pela realidade.
Nesse
esquema não há lugar para as leis universais da razão ou da natureza humana.
Certamente Montesquieu desejaria, de um lado, explicar de modo causal a
diversidade das leis positivas e, em segundo lugar, desejaria dispor de
critérios válidos e universais para fundamentar os juízos de valor, ou morais,
relativos às instituições consideradas. Quando o filósofo Louis Althusser
critica Montesquieu por essa referência às leis universais da razão e propõe
contentar-se com a explicação determinista das leis na sua particularidade, e
com os conselhos práticos tirados dessa explicação, ele pensa como marxista.
Contudo, se o marxismo condena a referência às leis universais da razão, é
porque encontra o equivalente no movimento da história em direção a um regime
que realizaria todas as aspirações dos homens e dos séculos passados. De fato,
uns ultrapassam a filosofia determinista fazendo apelo ao futuro, enquanto outros,
a critérios universais de caráter formal. Montesquieu escolheu este último
caminho para ir além da particularidade. Não queremos perder de vista que a
interpretação filosófica de Louis Althusser tem como representação uma nova
versão de um Montesquieu contraditório, em sua forma de pensar que haveria
entre seu gênio inovador e suas opiniões reacionárias. Essa interpretação tem
uma parte de verdade.
De
acordo com a análise política de Guilhon Albuquerque (2006: 120), lida dessa
forma, como propõe Althusser, a teoria dos poderes de Montesquieu se torna
vertiginosamente contemporânea. Ela se inscreve expressivamente na linha direta
das teorias democráticas que apontam a necessidade de arranjos institucionais
que impeçam que alguma força política possa a
priori prevalecer sobre as demais, reservando-se
a capacidade de alterar as regras depois de jogado o jogo político. Como toda
interpretação do jogo político clássico, o Montesquieu lido por Althusser não
pode substituir a leitura dos próprios textos. Toda reinterpretação de uma
teoria política se faz tendo em mente os problemas contemporâneos e constitui,
portanto, uma nova teoria, contemporânea. No fundo, toda teoria política
clássica é por natureza contemporânea.
Nos
conflitos de ideologias do século XVIII, Montesquieu pertence a um partido que
se pode qualificar efetivamente de reacionário, porque ele recomendava o
retorno a instituições que tinham existido em passado mais ou menos lendário. Sobretudo
durante a primeira metade desse século, a grande querela dos escritores
políticos franceses era marcada pela teoria da monarquia e a situação de debacle da aristocracia na monarquia. Em
linhas gerais, é possível afirmar que duas escolas se opunham. A escola
romanista, por exemplo, alegava que a monarquia francesa descendia do império
soberano de Roma, de que o rei da França seria o herdeiro. Nesse caso, a
história justificava a pretensão do rei francês ao absolutismo. A segunda
escola, chamada germânica, alegava que a situação privilegiada da nobreza
francesa derivava da conquista do país pelos francos. Esse debate deu origem a
doutrinas que se prolongaram no século seguinte, chegando a ideologias
propriamente racistas; por exemplo, como ocorre com a doutrina segundo a qual
os nobres seriam germânicos, e o povo, galo-romano. A distinção entre
aristocracia e povo corresponderia à diferença entre conquistadores e
conquistados.
A
essência da filosofia política de Montesquieu é o liberalismo, uma doutrina
baseada na defesa da liberdade individual, no nível de análise econômico, político,
religioso e intelectual, contra as ingerências e atitudes coercitivas do poder
estatal. O objetivo da ordem política é assegurar a moderação do poder pelo
equilíbrio dos poderes, o equilíbrio entre povo, nobreza e rei na monarquia
francesa ou na monarquia inglesa; o equilíbrio entre o povo e privilegiados,
entre plebe e patriciado na república romana. Esses são exemplos diversos da
mesma concepção fundamental de uma sociedade, heterogênea e hierárquica, em que
a moderação do poder exige o equilíbrio. Qualquer que seja a
estrutura da sociedade é sempre possível pensar como Montesquieu, isto é,
analisar a forma própria da heterogeneidade de uma determinada sociedade,
procurando, pelo equilíbrio dos poderes em confronto, a garantia da moderação e
da liberdade. Para os liberais, todo indivíduo têm direitos humanos inatos.
Muitos viram aí uma filosofia implícita do progresso inspirada por valores
liberais.
Concordarmos com Raymond Aron, em sua observação arguta segundo a qual Montesquieu é o último
dos filósofos clássicos; em outro, é o primeiro dos sociólogos. Ainda é um clássico na medida em que considera que uma
sociedade se define essencialmente pelo seu regime político, e na medida em que
chega a uma concepção da liberdade. Em outro sentido, porém, reinterpretou o
pensamento político clássico no interior de uma concepção global da sociedade,
e procurou explicar sociologicamente todos os aspectos das coletividades. De
fato, como Montesquieu o percebeu, depois de muitos outros, o devenir político até nossos dias é feito
efetivamente de alternâncias, de movimentos de progresso e depois de decadência.
O pensamento sociológico de Montesquieu se caracteriza, pela cooperação
incessante entre o que se chama de pensamento sincrônico e diacrônico.
Isto é, pela combinação sociológica renovada, da explicação das partes contemporâneas
de uma sociedade umas pelas outras, com a explicação dessa mesma sociedade pelo
passado e pela história. A distinção entre o que Auguste Comte chamava de estática e
dinâmica já é visível no método sociológico de L`Esprit des Lois como obra de passagem à interpretação
sociológica clássica.
Bibliografia
geral consultada.
DURKHEIM, Émile,
Montesquieu et Rousseau Précurseurs de la
Sociologie. Nota introdutória de Georges Davy. Paris: Marcel Rivière
Editeur, 1953; COTTA, Sergio, Montesquieu
e la Scienza della Politica. Turin: Edizioni Ramella,
1953; CHARPENTIER, Jeanne; CHARPENTIER, Michel, Montesquieu. Lettres Persanes. Paris: Ed. Bordas, 1966; ALTHUSSER, Louis, Montesquieu, la Politique et l`histoire. Paris: Presses
Universitaires de France, 1959; Idem, Del
Espiritu de las Leyes. Buenos Aires: Editorial Claridad, 1977; MONTESQUIEU, Charles de Secondat, O
Espírito das Leis. Tradução de Fernando Henrique Cardoso e Leôncio Martins
Rodrigues. São Paulo: Editor Abril Cultural, 1973; ARON, Raymond, As Etapas do Pensamento Sociológico. 4ª edição. São Paulo: Editora Martins
Fontes, 1993; GUILHON ALBUQUERQUE,
José Augusto, “Montesquieu: Sociedade e Poder”. Disponível em: Os Clássicos da Política. 14ª edição. São Paulo: Editora Ática,
2006; DURKHEIM, Émile, Montesquieu e Rousseau: Pioneiros da Sociologia. São Paulo: Editora Madras, 2008; MOSCATELI, Renato,
Rousseau frente ao Legado de Montesquieu: Imaginação Histórica e Teorização Política.
Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Filosofia. Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2009; DINIZ, Alice Candela, “Montesquieu: Filósofo Iluminista”. In: Oscar d`Alva e Souza Filho, Ensaios Discentes de Filosofia do Direito. Fortaleza: Imprece Editorial, 2011; pp. 15-23; VASCONCELOS, Francisco Thiago Rocha, Esboço de uma Sociologia Política das Ciências Sociais Contemporâneas (1968-2010): A Formação do Campo de Segurança Pública e o Debate Criminológico no Brasil. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Departamento de Sociologia. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2014; NASCIMENTO, Ricardo de Castro, Divisão dos Poderes. Origem, Desenvolvimento e Atualidade. Tese de Doutorado em Direito. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017; ARCO JÚNIOR, Mauro
Dela Bandera, A Origem da Alteração e a Alteração de Origem: Antropologias
de Rousseau. Tese de Doutorado. Faculdade de Filosofia, Letras e ciências
Humanas. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2018; entre
outros.