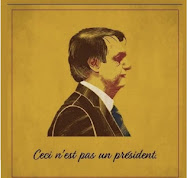Erosão do solo nada mais é do que o “deslocamento de terra” que acontece de um lugar para o outro. Na natureza, o processo erosivo ocorre pela ação natural do sol, de ventos e, principalmente, da água da chuva. A erosão do solo pode resultar na degradação das áreas agrícolas ou de pastagens e restringir ou impossibilitar a lucratividade da atividade agropecuária. Proporcionalmente em extensão metade dos solos agricultáveis do mundo está degradada, segundo informações da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). A entidade estima que o gasto global com fertilizantes para repor os nutrientes perdidos com processos erosivos dos solos é de US$ 110 a US$ 200 bilhões, anualmente. A erosão, além de danificar o meio ambiente, retira uma camada superficial do solo que é rica em nutrientes, o que reduz o potencial produtivo das terras e pode gerar prejuízo na lavoura. Uma outra estimativa da FAO aponta que o fenômeno atinge cerca de 80% da terra agricultável do planeta e se tornou a principal ameaça ao solo saudável para a agricultura. A FAO é uma das agências das Nações Unidas, a que lidera esforços para a erradicação da fome e combate à pobreza. O seu lema, fiat panis, se traduz do latim, significando “haja pão”. Composta por 194 Estados-membros, mais a União Europeia e, com presença solidária em mais de 130 países, a organização funciona como uma espécie de “fórum neutro”, onde quase todas as nações que a compõe possuem em tese um peso igualitário no que tange às estratégias e decisões, pois proporciona à quase todos os seus integrantes oportunidades para elaborarem e discutirem políticas ligadas à agricultura e alimentação.
A heliofísica, mutatis mutandis, combina outras disciplinas, incluindo ramos da astrofísica, física do plasma e física solar, isto é, através do meio de trabalho composto pelo Heliophysics Research Program, na exploração do sistema solar com missões robóticas, através do New Horizons, uma missão não-tripulada da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA), uma agência do governo federal dos Estados Unidos responsável pela pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e programas de exploração espacial, para estudar o planeta-anão Plutão e o Cinturão de Kuiper. Ela foi a primeira espaçonave a sobrevoar Plutão, e a fotografar suas pequenas luas Caronte, Nix, Hidra, Cérbero e Estige em 14 de julho de 2015, após cerca de nove anos e meio de viagem interplanetária e ainda sobrevoou o objeto 486958 Arrokoth. O principal objetivo é caracterizar globalmente a geologia e a morfologia de Plutão e suas Luas, além de mapear superfícies, estudar a atmosfera neutra de Plutão e velocidade de escape. Outros objetivos incluem o estudo das variações da superfície e da atmosfera de Plutão e de Caronte ao longo do tempo e na pesquisa astrofísica, aprofundando-se em tópicos como o chamado Big Bang com o auxílio de grandes observatórios. Claramente para a exploração do espaço precisava-se de um meio de transporte para tal finalidade. Daí veio a ideia de se usar o foguete como meio de trabalho para a exploração espacial. Um foguete espacial representa uma máquina que se desloca expelindo atrás de si um fluxo de gás a alta velocidade. Um foguete é constituído por uma estrutura, um motor de propulsão por reação e uma carga útil. A origem do foguete é, provavelmente, oriental.
A
primeira notícia da utilidade de uso é datada do ano 1232, na China, onde foi
inventada a pólvora, usada a princípio em fogos de artifício e, mais tarde,
para uso bélico ofensivo. Existem relatos etnográficos do uso de foguetes
chamados popularmente “flechas de fogo voadoras” no século XIII, na defesa da
capital da província chinesa de Henan devido a constantes invasões mongólicas
na fronteira ocidental do Império Chinês. Os foguetes foram introduzidos na
Europa pelos árabes, tornando a ser usados em conflitos europeus logo após a Guerra
dos Cem Anos (1337-1453). Durante os séculos XV e XVI, foi utilizado como “arma
incendiária de guerra”. Com o aprimoramento da artilharia, o foguete
“desapareceu até ao século XIX vindo a ser utilizado durante as Guerras
Napoleônicas (1803-1815)”. Os foguetes do coronel inglês William Congreve foram
usados na Espanha durante o sítio de Cádiz (1810), na primeira guerra Carlista
(1833-1840) e durante a Guerra do Marrocos (1860). Em fins do século XIX e início do século XX,
apareceram os primeiros cientistas que viram o foguete como a representação de
sistema para propulsionar veículos aeroespaciais tripulados. Entre eles, o
russo Konstantin Tsiolkovsky (1857-1935), o alemão Hermann Oberth (1894-1989),
o norte-americano Robert Hutchings Goddard (1882-1945) e os russos Sergei
Korolev (1907-1966) e Valentin Glushko (1908-1989) e o alemão Wernher von Braun
(1912-1977).
Na
história política da conquista e das guerras os alemães, liderados por Wernher
von Braun (1912-1977), um dos principais cientistas no desenvolvimento do
foguete V-2 na Alemanha nazista e foguete Saturno V nos Estados Unidos da
América, desenvolvidos durante a 2ª guerra mundial, os foguetes V-1 e V-2 (A-4
na terminologia alemã), que formaram a base para as pesquisas sobre foguetes
dos Estados Unidos da América e da União Soviética no pós-guerra. Ambas as
bombas nazistas, usadas em Paris e Londres no final da guerra, podem ser melhor
definidas como mísseis. A rigor, do ponto de vista tecnológico a V-1 não chega
a ser um foguete, mas um míssil veloz “que voa com propulsão de avião a jato”.
Inicialmente, foram desenvolvidos foguetes especificamente destinados para uso
militar, normalmente reconhecidos como mísseis balísticos intercontinentais. Os
programas espaciais que os norte-americanos e os russos colocaram em marcha
basearam-se em foguetes projetados com finalidades próprias para a utilização
astronáutica de guerra, derivados destes foguetes propulsores de uso militar.
Particularmente os foguetes usados no programa espacial soviético eram derivados
do R.7, um míssil balístico, que acabou sendo usado para as missões Sputnik.
Originalmente a missão Sputnik 1, junto com o voo de Yuri Gagarin (1934-1968)
no Vostok 1, teve um impacto profundo na história social da exploração
espacial. Foram os eventos que desafiaram os estadunidenses e foram a gota
d`água para o lançamento do Programa Espacial
objetivando alcançar a Lua. Em órbita sua frase “A Terra é azul!” entrou
para a história. Curiosamente a sua baixa estatura havia garantido ao major da
Força Aérea russa, com 27 anos, um lugar na apertada cápsula que o levaria
através de um “salto dialético” à órbita terrestre. E mais uma vitória
soviética na corrida contra os norte-americanos pela conquista do espaço.
A
corrida espacial ocorreu na segunda metade do século XX entre a União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e os Estados Unidos da América pela
supremacia na exploração e tecnologia espacial. Entre 1957 e 1975, a rivalidade
entre as duas superpotências durante a Guerra Fria atingiria ambos os
pioneirismos na exploração do espaço, que eram vistos como necessários para a
segurança nacional e símbolos da superioridade tecnológica e ideológica de cada
país. A corrida espacial envolveu esforços pioneiros no lançamento de satélites
artificiais, voo espacial tripulado suborbital e orbital em torno da Terra e
viagens tripuladas à Lua. A competição efetivamente começou com o lançamento do
satélite artificial soviético Sputnik 1 em 4 de outubro de 1957 e concluiu-se
com o projeto cooperativo Apollo-Soyuz em julho de 1975. O Projeto de Teste
Apollo-Soyuz passou então a simbolizar uma flexibilização parcial das relações
tensas entre a URSS e os Estados Unidos da América. A corrida espacial teve
suas origens na corrida armamentista que ocorreu logo após o fim da 2ª guerra
mundial, quando tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos capturaram a
tecnologia e especialistas de foguetes avançados alemães. As consequências
realizaram aumento sem precedentes nos gastos com educação e pesquisa pura, acelerando
avanços científicos sobre tecnologias benéficas para a civilização. Algumas
sondas e missões incluem os Sputnik 1, Explorer 1, Vostok 1, Mariner 2, Ranger
7, Luna 9, Apollo 8 e Apollo 11. Wernher von Braun foi um dos próceres no
desenvolvimento de tecnologias de foguetes para a Alemanha.
O estudo demonstra ainda que, os demais biomas brasileiros também perderam parte de suas áreas naturais entre 2000 e 2018, totalizando uma redução de cerca de 500.000 km² de áreas naturais nos diversos ecossistemas nacionais. - “Ao analisar a série histórica, percebe-se, contudo, que, apesar do saldo negativo total, as reduções de áreas naturais foram diminuindo de magnitude ao longo dos anos”, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Depois da Amazônia, a maior redução foi concentrada no Cerrado (-86,2%). O Pantanal foi o bioma nacional que apresentou as menores perdas de áreas naturais, tanto em termos absolutos (2.109 km²) quanto percentuais (1,6%). De acordo com o IBGE, o dado “retrata um menor dinamismo de conversões de usos na região”. A Mata Atlântica e Caatinga foram os que registraram as maiores quedas no volume de áreas naturais, passando de 8.793 km² para 577 km² e de 17.165 km² para 1.604 km², respectivamente, no período pesquisado. Com as perdas, a Mata Atlântica, com o território de ocupação histórica mais longa e intensa do Brasil, hoje tem somente 16,6% de áreas naturais. A Caatinga desponta como o terceiro bioma mais preservado do País, com apenas 36,2% de seu território sob influência humana nos dias atuais.
Uma cratera gigantesca, que se abriu na década de 1960 e não para de crescer em uma remota região da Sibéria, na Rússia, tem dado aos cientistas indícios de como era o ecossistema do território há 200 mil anos. Conhecida como “Porta do Inferno”, a região tem um tipo de solo chamado permafrost, que fica permanentemente congelado, mas está se derretendo com o aquecimento global. À medida que o gelo some, surgem pistas do tipo de paisagem que a área abrigou no passado. - “Entender como era o ecossistema pode ajudar a entender como a região se adaptará ao atual aquecimento do clima”, disse Julian Murton, professor da Universidade de Sussex, na Inglaterra, à BBC. As camadas de sedimento expostas revelam como era o clima no local há 200 mil anos. Resquícios de árvores, pólen e animais indicam que a área representava densa floresta. Esse registro geológico pode ajudar a compreender como será a adaptação da região ao aquecimento global. Ao mesmo tempo, o crescimento acelerado da cratera é um indicador imediato do impacto cada vez maior das mudanças climáticas no degelo do permafrost. O buraco foi nomeado Batagaika. Tem 1 km de extensão e 85 metros de profundidade, equivalente a um prédio de 28 andares. Ele tem crescido cerca de 10 metros por ano, mas em anos muito quentes a ampliação chega a 30 metros, segundo o Instituto Alfred Wegener em Potsdam, na Alemanha.
Frank Gunther, pesquisador do instituto, diz que não há nenhuma obra de engenharia capaz de conter a expansão da cratera, que está localizada em uma área de floresta boreal. A cratera começou a se formar quando o rápido desmatamento na região deixou o terreno sem a proteção das sombras das árvores nos meses de verão. Sem a cobertura vegetal, o processo de degelo se acelerou. O professor Murton diz que, à medida que o degelo aumente, é provável que a cratera revele paisagens novas. Por enquanto, cientistas analisam as características que já estão expostas na cratera Batagaika para estabelecer a cronologia da história climática da Sibéria. - “Queremos saber se as mudanças climáticas durante a última Era do Gelo estiveram caracterizadas por uma grande variabilidade, com períodos intercalados de aquecimento e esfriamento”. Ele lembra que há 125 mil anos houve um período interglacial, com temperaturas vários graus acima das registradas. À medida que o gelo derrete, é provável que o degelo aumente. Gunther afirma que, quanto maior o degelo, maior é a exposição de carbono a micróbios. Esses micro-organismos consomem carbono e produzem dióxido de carbono e metano, que são os gases causadores do efeito estufa. O metano é capaz de acumular 72 vezes mais calor que o dióxido de carbono num período de 20 anos. Os gases liberados pelos micróbios na atmosfera aceleram ainda mais o aquecimento, gerando um ciclo. Batagaika não é a única cratera na Sibéria. A região tem outras sete crateras na península de Taimyr, que também estão se expandindo.
Estudar os impactos das mudanças geológicas no clima na Sibéria pode ajudar os pesquisadores e cientistas da natureza a prever o que pode acontecer na atual fase de mudança climática pela qual ocorre no planeta. De acordo com os pesquisadores, raras combinações químicas, como as encontradas em minas, aterros ou fundições, provocaram a formação de novos minerais, como bluelizardite, fluckite ou kokinosite. A mineração é a principal causa da formação dos novos minerais, principalmente pela ação do fogo e da água em túneis subterrâneos. As composições foram formadas nos últimos 250 anos. “Vivemos em uma era de diversificação de compostos inorgânicos sem paralelo”, relata o pesquisador Robert Hazen, que liderou o estudo publicado no periódico especializado “American Mineralogist”. A revista foi criada em 1916, com a primeira edição publicada em julho daquele ano, sob os auspícios da Philadelphia Mineralogical Society, do New York Mineralogical Club e da Mineral Collectors' Association. Em 30 de dezembro de 1919, a Sociedade Mineralógica da América foi formada e o Mineralogista Americano tornou-se o jornal como meio de divulgação das atividades científicas da sociedade. Os cientistas destacaram que as alterações geológicas causadas pela humanidade na diversidade e na distribuição dos minerais foi a mais profunda desde o aumento dos níveis de oxigênio na atmosfera, há 2,2 bilhões de anos. O estudo é o primeiro catálogo global de minerais criados por atividades humanas. Uma corrente da comunidade científica defende que as alterações provocadas pela humanidade na natureza já são suficientes para marcar uma nova era geológica, o Antropoceno.
Antropoceno é um termo usado por alguns cientistas para descrever o período recente na história do Planeta Terra. Ainda não há data de início precisa e oficialmente apontada, mas muitos consideram que começa no final do século XVIII, quando as atividades humanas começaram a ter um impacto global significativo no clima da Terra e no funcionamento dos seus ecossistemas. Esta data coincide com a aprimoração do vapor por James Watt em 1784. Outros cientistas consideram que o Antropoceno começa mais cedo, como por exemplo no advento da agricultura. As tentativas de datação precisas revelam, porém, o problema do necessário distanciamento histórico na ponderação de eventos e grandezas relevantes de tempo geológico. Um observador distanciado milhões de anos no futuro poderá, munido de suficiente informação, melhor determinar uma data e uma tipologia para o Antropoceno. Perante o alcance das consequências da ação do Homem na evolução do Planeta Terra, o Antropoceno poderá ser reconhecido e classificado, por exemplo, como um novo período ou era geológica. Nesta perspectiva, é plausível apontar o seu início a partir do surgimento do Homo sapiens. O biólogo Eugene F. Stoermer originalmente cunhou o termo, mas foi o químico vencedor do Prêmio Nobel Paul Crutzen que independentemente o reinventou e popularizou. Stoermer escreveu, “eu comecei a usar o termo antropoceno na década de 1980, mas nunca formalizei até ser contatado pelo Paul”. Crutzen explicou, eu estava numa conferência onde alguém disse alguma coisa sobre o Holoceno. De repente, eu pensei que isso estava errado. O mundo mudou demais. Então eu disse: - Não, nós estamos no Antropoceno. Eu criei a palavra no calor do momento. Todos se chocaram. Mas ela parece ter ficado. O termo foi usado pela primeira vez em uma publicação em 2000 por Paul Crutzen & Eugene Stoermer em um informativo técnico-científico do Programa Internacional da Geosfera-Biosfera. Ainda em 1873, o geólogo italiano Antônio Stoppani reconheceu o aumento do poder e do efeito da humanidade nos sistemas da Terra e se referiu a uma “era antropozoica”.
Um termo similar, Homogenoceno,
foi usado pela primeira vez por Michael Samways em seu primeiro artigo
editorial no Journal of Insect Conservation (1999) intitulado: Translocating
fauna to foreign lands: here comes the Homogenocene. Samways utilizou o termo para definir a
geológica atual, na qual a biodiversidade está diminuindo e os ecossistemas ao
redor do globo se tornaram mais similares uns aos outros. O termo foi usado por
John L. Curnutt em 2000 em Ecology, em uma pequena lista intitulada, “A
Guide to the Homogenocene”. Andrew Revkin cunhou o termo Antroceno em
seu livro Global Warming: Understanding the Forecast (1992), no qual
escreve, “nós estamos entrando em uma era que pode um dia ser referida como,
poderia dizer, o Antroceno. No final das contas, é uma era geológica de nossa
própria autoria”. O nome evoluiu para “Antropoceno”, que geralmente é considerado
como um termo técnico mais apropriado inclusivo ao homem. Muitas espécies foram
extintas devido ao impacto humano. A maioria dos especialistas concorda que as
atividades humanas têm acelerado progressivamente a taxa de extinção de
espécies. Porém, a taxa exata é controversa, sendo muitas vezes situada entre
100 a 1000 vezes a taxa considerada normal. Em 2010 um estudo publicado na
Nature refere que o fitoplâncton declinou substancialmente nos oceanos do mundo
ao longo do século passado. Desde 1950, biomassa de algas diminuiu cerca de
40%, em resposta ao aquecimento do oceano, sendo que o declínio
ganhou ritmo nos últimos anos. Alguns autores postulam que sem impactos atribuído no plano das atividades humanas
a biodiversidade do planeta continuaria a crescer a um ritmo exponencial.
Inseparável do declínio da biomassa, o problema da paz é uma questão central no pensamento de gurus como Jiddu Krishnamurti e o Dalai Lama. É também preocupação maior do reputado filósofo e sociólogo francês Edgar Morin, preocupação essa pela primeira vez expressa no seu livro Terre-Patrie (1993), “a nossa casa e o nosso jardim”, pondo em destaque uma questão com implicações globais. Na edição aberta de 13 de julho de 2012 do jornal New York Times, o ecologista Roger Bradbury previu o fim da biodiversidade marinha, dizendo que os recifes de coral estão condenados, “os recifes de coral serão os primeiros, mas certamente não o último grande ecossistema, a sucumbir ao Antropoceno”. Este artigo rapidamente gerou muita discussão entre os ambientalistas e foi refutada no site da The Nature Conservancy, defendendo sua posição de proteger os recifes de coral, apesar de impactos humanos continuaram causando quedas de recife. Destaca-se também uma mudança na variedade de animais, já que áreas onde várias espécies de animais superiores viviam anteriormente foram modificadas para a criação de animais que servissem para a alimentação humana, diminuindo a diversidade da área; isto é especialmente verdade para pastos e fazendas marinhas. Alteração similar houve nas regiões urbanas, onde alguns animais foram expulsos de seus habitats, enquanto outros se adaptaram, tornando-se por vezes pragas. A diversidade de plantas comestíveis e não-comestíveis foi sensivelmente afetada pela seleção humana, que priorizou alguns poucos cultivares em detrimento de uma grande diversidade natural; enormes áreas povoadas com centenas de espécies vegetais diferentes são degradadas para originar plantações de um só ou de poucos espécimes de plantas, o que também afeta a fauna, em um outro plano biológico. Biomas inteiros são ameaçados, e processos como desertificação e savanização modificam paisagens de forma agressiva e rapidamente. Oimiakon é uma localidade do Leste da Sibéria (Rússia), junto ao Rio Indigirka, na República de Sakha, e tem cerca de 500 habitantes.
Vale lembrar que Leon Trotsky nasceu numa pequena localidade do óblast de Kherson na atual Ucrânia, sendo o quinto filho de Anna e David Leontyevish Bronstein, um humilde lavrador de origem judaica que, pragmaticamente, havia aproveitado os esquemas de colonização tzaristas na Crimeia para abandonar a área tradicional de residência autorizada aos judeus (o “pálio”) e converter-se num próspero fazendeiro. A família de origem judaica não era religiosa. Em casa, falava-se russo ou ucraniano e não iídiche. Aos nove anos, foi para Odessa, a fim de prosseguir seus estudos numa escola tradicional alemã. Ao longo dos anos em que ali permaneceu, passou pelo processo de “russificação”, conforme a política czarista. Trotsky revelava já um temperamento de líder, organizando um protesto contra um professor impopular no 2º ano. Não demonstrou interesse pela política nem pelo socialismo até 1896, quando se mudou para Nikolaev, onde concluiu o ano de estudos secundários. Cursou Matemática brevemente na Universidade Nacional de Odessa. Sua irmã Olga casou-se com Lev Kamenev, um dos principais líderes bolcheviques e membro do triunvirato liderado por Stálin, que afastaria o próprio Trotsky do poder, sendo também afastado posteriormente. Após um período de exílio europeu, Trotsky voltou para a Rússia durante a Revolução Russa de 1905, onde sua oratória elétrica fez dele uma figura de liderança na St. Petersburgo Soviética até sua prisão, em dezembro do mesmo ano, conseguindo, porém, escapar e refugiar-se na Europa Ocidental. Durante a próxima década Trotsky passou do apoio da ala menchevique do POSDR a defesa da unidade das diversas facções dentro do partido, criando uma organização formal chamada Partido Operário Socialdemocrata Russo, vulgarmente reconhecido como o “Mejraiontsi”, um grupo com base em Petrogrado.
O virtual colapso do antigo regime durante a última parte da 1ª grande guerra (1914-18) motivou Mejraiontsi a fazer as pazes com os rivais bolcheviques liderados por Lênin, e no início de 1917 Trotsky voltou do exílio em Nova York para se unir como membro do Comitê Central do Partido Bolchevique. O trabalho de Trotsky, assumindo o cargo de chefe do Soviete de Petrogrado no início de outubro e constituindo o Comité Militar-Revolucionário, foi fundamental em criar as bases para a deposição do governo provisório russo liderado por Alexander Kerensky em 7 de novembro de 1917. A dissidência no interior do partido vem a público quando Trotsky publica, em 1924, um prefácio à edição dos seus escritos de 1917, As Lições de Outubro, criticando a falta de estratégia revolucionária de Joseph Stalin e da direção do Comintern na direção do levante alemão de 1923. O problema principal que motivava a oposição contra a política de Stalin e de Bukharin, afirma Medvedev, era atitude diante dos elementos capitalistas na cidade e no campo. Ela reclamava uma intensificação da luta contra os kulaks e os Nepman, além do aumento de impostos a que estavam sujeitos. Simultaneamente, exigia um incremento do ritmo da industrialização, a ampliação e o aprofundamento da democracia no Partido, a luta contra a burocratização do aparelho do Partido e do Estado, etc. Portanto, a orientação da oposição não estava absolutamente em contraste com a do Partido quanto á construção do socialismo.
A
oposição simplesmente queria o uso de métodos que não se conciliavam com os
princípios fundamentais da NEP. Insistia na aceleração da construção do
socialismo para a qual o país ainda não estava pronto. Trotsky, Zinoviev ou
Kamenev, tentavam em geral evitar as discussões sobre a possibilidade da “construção”
total e completa do socialismo. Compara suas atitudes com a indecisão
demonstrada por Kamenev e Zinoviev às vésperas da Revolução de Outubro de 1917.
Após sua deportação, Leon Trotsky passou pela Turquia, França de julho de 1933
a junho de 1935, e Noruega de junho de 1935 a setembro de 1936, fixando-se
finalmente no México, a convite do pintor Diego Rivera, vivendo temporariamente
em casa deste e mais tarde em casa da esposa de Rivera, a pintora Frida Kahlo.
À medida que aumenta a repressão stalinista, multiplicam-se os lutos
familiares. Além da morte dos seus quatro filhos, os genros, noras, netos, e
outros parentes próximos de Trotsky são igualmente vítimas da repressão por sua
ligação com um suposto “inimigo do povo” e desaparecem nos sucessivos expurgos
da década de 1930, com exceção do único filho que Zina pôde levar consigo ao
exterior, e que acabou por reunir-se ao avô no México, depois de negociações
com a mulher francesa de Leon Sedov - que havia se responsabilizado pelo
sobrinho num hospital parisiense.
Robert
Edwin Peary (1856-1920) foi um explorador polar norte-americano conhecido pela
alegação de ter sido o primeiro homem a atingir o Polo Norte geográfico em
1909. Em 1886, Peary definiu como meta atingir o ponto de maior latitude da Terra,
o Pólo Norte. Pioneiro nesse objetivo, utilizou técnicas esquimós com roupa de
pele, trenós de cães para o conseguir. Em 1891 e 1892, viajou pela Gronelândia
e demonstrou tratar-se de uma ilha, facto até então desconhecido. Nessa viagem
descobriu a costa norte gronelandesa, até então nunca navegada. A alegação de
Peary foi aceita durante boa parte do século XX; entretanto, nos dias de hoje,
ela é amplamente contestada, em favor da alegação de Frederick Cook, que afirma
ter chegado ao polo um ano antes de Peary. A expedição liderada pelo
norte-americano Robert Peary alegou ter chegado ao Polo Norte em 1908, mas hoje
muitos historiadores e cientistas duvidam do feito. A 6 de abril de 1909, terá
alegadamente atingido o Polo Norte e aí içado a bandeira norte-americana. Tal
feito suscitou polêmica, uma vez que seu compatriota F. A. Cook afirmava ter lá
chegado em 1908, fato que, no entanto, não conseguiu provar. Antes de Peary,
houve várias expedições ao Ártico. Peary estudou técnicas de sobrevivência
usadas pelos inuit, aprendeu a manejar trenós de cães, a construir iglus e a
vestir-se com peles tal como faziam os nativos esquimós.
Também
confiou neles como caçadores, pescadores e guias durante as expedições e foi
pioneiro no uso de grupos de apoio e manutenção de provisões para a travessia.
A isto chamou “o sistema Peary”. Para a sua expedição final ao Polo Norte,
partiu da cidade de Nova Iorque junto com 23 homens, a 6 de julho de 1908, e
passou o Inverno perto do cabo Sheridan, na ilha Ellesmere. Dali partiram para
o Polo Norte em vários grupos desfasados de alguns dias de intervalo, iniciados
a 28 de fevereiro de 1909. No percurso final da expedição, apenas cinco dos
seus homens participaram além de Peary: Matthew Henson e 4 Inuit
chamados Oatah, Egingwah, Seegloo e Ookeah. No Diário
de campo em que mantinha registados os eventos dia-a-dia, a 7 de abril escreveu
(as notas foram depois reescritas para publicação): - “Por fim o Polo! Prémio
de três séculos, o meu sonho e ambição durante 23 anos. Vejo o fim...”. A
afirmação de Peary de chegada ao Polo Norte foi quase sempre posta em
causa, devido a certas ideias.
Mal regressara do Ártico inteirou-se que Frederick Cook também afirmava ter chegado lá no ano anterior (1908); enquanto que a expedição de Cook quase seguramente foi uma fraude e nunca foi a nenhum lado próximo do polo, as mesmas incógnitas e dúvidas devido à falta de prova são aplicadas a Peary. O grupo que acompanhou a Peary na etapa final da travessia não incluía ninguém treinado na navegação que pudesse confirmar independentemente o seu trabalho de navegação, o qual parece bastante negligente. As distâncias e velocidades que Peary afirmou ter alcançado com o último grupo de apoio para regressar são três vezes mais rápidas que outros. O cálculo de um itinerário de ida e volta ao polo por uma rota direta - a única forma na que poderia ter viajado a tal velocidade — é contraditório com as contas de Matthew Henson de um desvio tortuoso para evitar inconvenientes. Em 1996 foi feita uma análise de registos de Peary descobertos nesse momento, e indicam que esteve a quase 20 milhas náuticas (37 km) do polo. Alguns historiadores creem que Peary pensou que tinha chegado ao polo. Outros sugeriram que é “culpado de exagerar deliberadamente os seus feitos”. Também outros sugerem que qualquer indício de que Peary não tinha chegado lá deve ser o trabalho de conspiradores que estavam a favor de Cook, que queria desacreditá-lo. Provavelmente a controvérsia nunca será resolvida.