A
cultura da Grécia Antiga é a base sobre a qual se eleva acultura da civilização
ocidental. Como sabemos, exerceu poderosa influência sobre os romanos, que se
encarregaram de repassá-la a diversas partes da Europa. A civilização grega
antiga teve influência na linguagem, na política, no sistema educacional, na
filosofia, na ciência, na tecnologia, na arte e na arquitetura moderna,
particularmente durante a renascença da Europa ocidental e de resto durante os
diversos reviverem neoclássicos dos séculos XVIII e XIX. Conceitos sociológicos
como cidadania e democracia são gregos, ou pelo menos de pleno desenvolvimento
nos manuscritos dos gregos. Os historiadores e escritores políticos cujos
trabalhos sobreviveram ao tempo eram, em sua maioria, atenienses ou pró-atenienses
e todos conservadores. Por isso se conhece melhor a história de Atenas do que a
história das outras cidades. Esses homens concentraram seus
trabalhos em aspectos políticos, militares e diplomáticos, ignorando o que veio
a se conhecer modernamente por áreas de conhecimento em história econômica e
social. O homem é criação propiciada pelo processo real de transformação da
realidade e por uma formação ideal exagerada da imaginação que faz
a essência do homem criadora.
A possibilidade real, a ocasião
apriorística desse modo de comportamento que chamamos amor, fará surgir, se for
o caso, e levará à consciência, como um sentimento obscuro e geral, inicial de
sua própria realidade, antes mesmo que a ele se some a incitação por um objeto
determinado para levá-lo a seu efeito acabado.
A existência desse impulso sem objeto, por assim dizer incessantemente
fechado em si, acento premonitório do amor, puro produto do interior e, no
entanto, já acento de amor, é a prova mais decisiva em favor da essência
central puramente interior do fenômeno amor, muitas vezes dissimulado sob um
modo de representação pouco claro, segundo o qual o amor seria uma espécie de
surpresa ou de violência vindas do exterior, tendo su símbolo mais pertinente
no “filtro do amor”, em vez de uma maneira de ser, de uma modalidade e de uma
orientação que a vida como tal toma por si mesma – como se o amor viesse de seu
objeto, quando, na realidade, vai em direção a ele. De fato, o amor é o
sentimento que, fora dos sentimentos religiosos, se liga mais estreita e mais
incondicionalmente a seu objeto. À acuidade com a qual ele brota do sujeito
corresponde a acuidade igual com que ele se dirige para o objeto. É que nenhuma
instância vem se interpor. Se venero alguém. É pela qualidade de venerabilidade
que, em sua realidade, permanece ligada à imagem pelo tempo quanto eu o venerar, passível de adoração, contemplação e respeito.
Por mais insuficiente, por mais preso a um estreito simbolismo humano que esteja o conceito de objetivo e de meios em presença da misteriosa realização da vida, devemos qualificar essa emoção sexual de meio de que a vida se serve para a manutenção da espécie, confiando aqui a consecução desse objetivo não mais a um mecanismo (no sentido lato) mas a mediações psíquicas. Enfim, a pulsão, dirigida a princípio, tanto no sentido genérico quanto no sentido hedonista, ao outro sexo enquanto tal, parece ter diferenciado cada vez mais seu objeto, à medida que seus suportes se diferenciavam, até singularizá-lo. Claro, sabemos que a pulsão não se torna amor pelo simples fato de sua individualização; esta última pode ser refinadamente hedonista, ou instinto vital-teleológico para o parceiro apto a procriar os melhores filhos. Mas, indubitavelmente, ela cria uma disposição formativa e, por assim dizer, um marco para essa exclusividade que constitui a essência do amor, mesmo quando seu sujeito se volta para uma pluralidade de objetos. Não duvidamos em absoluto que no seio do que se chama “atração dos sexos” constitui-se o primeiro factum, ou, se quiserem, a prefiguração do amor. A vida historicamente se metamorfoseia nessa produção social, traz sua corrente à altura dessa onda cuja crista vital, de desenvolvimento, sobressai acima dela. Se considerarmos o processo da vida como um dispositivo de meios a serviço desse objetivo e se levarmos em conta seu significado efetivo para a propagação da espécie, então este também é um dos meios que a vida se dá para si e a partir de si.
Do mesmo modo, no homem que temo, o caráter terrível e o motivo que o provocou estão intimamente ligados; mesmo o homem que odeio não é, na maioria dos casos separado em minha representação da causa desse ódio – é esta uma das diferenças entre amor e ódio que desmente a assimilação que comumente se faz deles. Mas o específico do amor é excluir do amor existente a qualidade mediadora de seu objeto, sempre relativamente geral, que provocou o amor por ele. Ele permanece como intenção direta e centralmente dirigida para esse objeto, e revela a sua natureza verdadeira e incomparável nos casos em que sobrevive ao desaparecimento indubitável do que foi sua razão de nascer. Essa constelação, que engloba inúmeros graus, desde a frivolidade até a mais alta intensidade, é vivida segundo o mesmo modelo, seja em relação a uma mulher ou a um objeto, a uma ideia ou a um amigo, à pátria ou a uma divindade. Isso deve ser solidamente estabelecido em primeiro lugar, se quisermos elucidar em sua estrutura seu significado mais restrito, o que se eleva no terreno da sexualidade. A ligeireza com que a opinião corrente alia instinto sexual a amor lança talvez uma das pontes mais enganadoras na paisagem psicológica exageradamente rica em construções desse gênero. Quando, ademais, ela penetra no domínio da psicologia que se dá por científica, temos com demasiada frequência a impressão de que esta última caiu nas mãos de açougueiros. Por outro lado, o que é óbvio, não podemos afastar pura e simplesmente essa relação.
Para que a espécie humana pudesse
sobreviver, a psique precisou ser socializada e dar sentido a um mundo
aparentemente sem-sentido natural-biológico. Ao criar as significações,
institui-se a sociedade que é a origem de si mesma. Não se poderia pensar a
humanidade fora do mundo de significações, ou a subjetividade, a partir do
termo “para si”, das representações das instituições sociais. O “para si” é
inferido a partir das instancias, interdependentes, em que todas existem, mas
nenhuma se mantém sem a outra, numa completa relação de atividade e
reciprocidade representando a totalidade do sujeito. Enfim, Cornelius Castoriadis
admite que é impossível fazer filosofia sem uma ontologia, segundo o
aristotelismo, parte da filosofia que tem por objeto o estudo das propriedades
mais gerais do ser apartada da infinidade de determinações que, ao qualificá-lo
particularmente, ocultam sua natureza plena e integral. isto é, sem uma
interrogação sobre o ser, mas, ao contrário do que possa pensar aquele para
quem ontologia soa como “palavra proibida”, sua reflexão é inteiramente
articulada à questão política. Não sendo, pois, uma idealização, mas um
pensamento radical sobre a possibilidade de uma sociedade na qual os homens
tenham consciência de seu poder. Por sua vez, o imaginário radical enquanto
imaginário social aparece como corrente do coletivo anônimo, traduzindo-se na
sociedade e no que para o social-histórico é posição, criação e fazer ser. Duas
dimensões não incomunicáveis nem estáticas, embora a dimensão psíquica, tenha participação oculta na formação do que é próprio na
criação.
Em H. M. Enzensberger, a inteligência é vista como uma ferramenta crucial para a compreensão do mundo e para a resolução de problemas, incluindo a própria existência. A inteligência não é apenas uma capacidade cognitiva, mas também uma força vital que permeia a organização dos sistemas, incluindo os seres vivos, e que permite a adaptação e a sobrevivência. A literatura de Enzensberger, em particular, destaca a inteligência em ação, utilizando-a para analisar e criticar a sociedade, a cultura e a política. A inteligência, segundo Enzensberger é essencial para a sobrevivência. A capacidade de encontrar soluções e adaptar-se a novas situações é fundamental para a existência de qualquer sistema, seja ele vivo ou não. Uma força organizadora, pois, atua na organização e na manutenção da ordem em sistemas complexos, incluindo o próprio corpo humano e a sociedade. Presente em todas as formas de vida, pois, a inteligência não é exclusiva da espécie humana, mas é uma característica presente em todos os seres vivos, manifestando-se de diferentes formas. A inteligência é um elemento central na obra de Enzensberger, especialmente na sua poesia, onde é usada para analisar e criticar o mundo. A inteligência não é estática, mas sim um processo contínuo de aprendizado e adaptação, capaz de se renovar e evoluir. A obra de Enzensberger, especialmente “Destinatário: Desconhecido”, demonstra, realmente, como a inteligência pode ser usada para lidar com a complexidade do mundo, intrincada teia de interconexões e interdependências que caracterizam os sistemas sociais, naturais e tecnológicos e, portanto, para questionar as estruturas de poder e de conhecimento existentes.
Hans
Magnus Enzensberger nasceu em 1929, em Kaufbeuren, Suábia, Alemanha quando
vivenciou ainda adolescente a 2ª guerra mundial, pois em 1945, aos 16 anos, foi
recrutado para as chamadas tropas Volkssturm (milícia popular alemã),
convocadas nos últimos dias de guerra pela Wehrmacht. Antes da chegada da Era Autoritária ao poder, o termo Wehrmacht era usado em sentido geral para
descrever as forças armadas de qualquer nação. Por exemplo, o termo “Britische
Wehrmacht” referia-se às forças armadas britânicas. Mas é um termo alemão que
significa “Força de Defesa”, e que pode ser entendido como meios/poder de
resistência, referiu-se ao conjunto das forças armadas da Alemanha durante o
Terceiro Reich entre 1935 e 1945 e englobava o Exército (“Heer”), Marinha de
Guerra (“Kriegsmarine”), Força Aérea (“Luftwaffe”) e tropas das Waffen-SS, que
apesar de não serem da Wehrmacht, eram frequentemente dispostas junto às suas
tropas. Substituiu a anterior Reichswehr, criada em 1921, após a derrota
alemã na 1ª grande guerra. Em 1955, as novas forças armadas alemãs foram
reorganizadas sob o nome de Bundeswehr. Durante os dez anos de sua
existência, aproximadamente 18 milhões de combatentes serviram na Wehrmacht.
Cerca de 3,5 milhões morreram em combate na 2ª guerra mundial, sendo 88% na
frente russa.
Após
a morte do presidente Paul von Hindenburg (1847-1934) em 2 de agosto de 1934,
todos os oficias e soldados das forças armadas da Alemanha fizeram um juramento
de lealdade à tirania. Em 1935, a Alemanha começou a desprezar
deliberadamente as restrições do Tratado de Versalhes, e o alistamento foi
reintroduzido em 16 de março de 1935. A lei de alistamento traria o novo nome Wehrmacht,
cujo símbolo seria uma “versão estilizada da Cruz de Ferro”. A existência da Wehrmacht,
termo alemão que significa força de defesa, foi oficialmente anunciada em 15 de
outubro de 1935. Acredita-se que o número de soldados que nela serviram durante
sua existência de 1935 a 1945 seja de aproximadamente 18,2 milhões. Discípulo de Adorno e Horkheimer alguns de
seus trabalhos de caráter político mais conhecido referem-se à sua concepção
teorética sobre a chamada “indústria cultural” (cf. Enzensberg, 1966).
Especialmente profética é a consciência do poder da mídia.
Movido por uma intransigência política que o leva a negar o discurso triunfante
do “capitalismo tardio”, um dos conceitos mais mencionados ao se discutir seu
approach é à noção Weltekel, ou “nojo do mundo”.
Sua raiva parece dirigir-se primordialmente contra a tendência contemporânea à passividade política enquanto “mito do progresso” (cf. Catarino, 1988). Segundo Hans Magnus Enzensberger, o término de ideologias hegemônicas fez eclodir guerras civis que, em meados dos anos 1990, atingiam a marca de pelo menos quarentas casos de grande gravidade em âmbito global (cf. Enzensberger, 1976; 1985; 1995). Do ponto de vista globalidade Enzensberger admite que as utopias fossem, sem exceção, “plantas europeias” para a edificação de sociedades utópicas, em que não mais Adão mandava, mas o Novo Homem. As tentativas terminaram em ressaca, vide o “Anno Mirabilis” de 1989 que como representação da queda, ou colapso do Muro de Berlim um símbolo não só da chada Guerra Fria, e em grande parte do contemporâneo mundo ocidental também foi muito “quente”, mas também a divisão política internacional da Europa depois de 1945. Em meados de 1942, a Wehrmacht - as forças armadas terroristas nazistas - e as tropas do Eixo democrático já ocupavam boa parte da Europa continental, do Norte da África e quase um quarto do território soviético. Contudo, após falharem em conquistar Moscou e serem derrotados em Stalingrado, as forças nazistas retrocederam.
A entrada dos Estados Unidos da América na guerra ao lado dos Aliados forçou a Alemanha a ficar na defensiva, acumulando uma série de derrotas a partir de 1943. Nos últimos dias do conflito, durante a Batalha de Berlim em 1945, Hitler se casou com Eva Braun sua amante de longa data, Eva Braun. No dia 30 de abril de 1945, os dois cometeram suicídio para evitar serem capturados pelo exército vermelho. Seus corpos foram queimados e enterrados. Uma semana mais tarde a Alemanha se rendeu formalmente. Sob a liderança de Adolf Hitler, com uma ideologia racialmente motivada, o regime nazista perpetrou um dos maiores genocídios da história da humanidade, matando pelo menos 6 milhões de judeus e milhares de outras pessoas que Hitler e seus seguidores consideravam como Untermenschen (sub-humanos) e socialmente indesejáveis. Os nazistas também foram responsáveis pela morte de mais de 19,3 milhões de civis e prisioneiros de guerra. Além disso, no total, 29 milhões de soldados e civis morreram como resultado do conflito na Europa durante a II Guerra Mundial (1939-1945). O número de fatalidades neste conflito foi sem precedentes e ainda é uma das guerras mais mortais da história. Como um dos mentores do movimento estudantil na Alemanha, H. M. Enzensberger manteve sua condição interessada de escritor e analista político, postura que se perpetuou mais tarde, quando criticou o ideário individual (sonho) e coletivo (rito, mito, símbolo) já desgastado da esquerda, segundo seu biógrafo Jörg Lau (1999), nascido em 1964, editor no semanário alemão Die Zeit.
As suas áreas temáticas são o Islão, o liberalismo, a integração e a religião. Publicou vários ensaios, o mais recente dos quais – Leitkultur – sobre o novo patriotismo e a cultura de esquerda resultantes do fato de a Alemanha se ter tornado um país de imigração. Imediatamente após a guerra, “ganhou a vida” comercializando no mercado paralelo. Contudo, estudou Literatura e Filosofia nas universidades de Erlangen, Freiburg, Hamburgo e na Sorbonne, onde se doutorou em 1955. Trabalhou como Redator na rádio de Stuttgart e exerceu a docência até 1957, com o volume de poesias Verteidigung der Wölfe. Em 1963, com 33 anos de idade, foi um dos autores mais jovens a receber o prestigioso Prêmio Georg Büchner. Entre 1965 criou a revista Kursbuch e em 1975 foi membro do Grupo 47, e desde 1985 como Editor da série literária Die Andere Bibliothek. O Prêmio Georg Büchner é o mais importante prêmio literário da literatura alemã. Seu nome homenageia o escritor e dramaturgo alemão Georg Büchner (1813-1837). O prêmio foi fundado em 1923, na época da República de Weimar, pela câmara de deputados do Estado Popular de Hesse (extinto em 1946, hoje: Hesse) para decorar artistas ligados com Hessen. Entre 1933 e 1944 o prêmio foi substituído por um prêmio da cidade alemã Darmstadt. Desde 1951 o Georg-Büchner-Preis é concedido anualmente pela Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. A doação de 3.000 marcos alemães em 1951 subiu até 2004 para 40.000 Euros, sendo assim um dos mais dotados prêmios literários da Alemanha.
Consequentemente, qualquer crítica à indústria da consciência que pretenda a sua eliminação, é impotente e obscura. Ela se baseia na sugestão suicida de retroceder na industrialização, liquidando-a. O fato de que tal autoliquidação seja possível à nossa civilização por meios técnicos torna as propostas de seus críticos reacionários uma ironia macabra. Não foi assim que imaginaram essa reivindicação; deveriam desaparecer apenas os “tempos modernos”, o “homem-massa” e a televisão. Mas os seus críticos pretendiam ficar a salvo. De qualquer forma, os efeitos da indústria da consciência foram descritos, em detalhes, e por vezes com grande argúcia. Em relação aos países capitalistas, a crítica ocupou-se especialmente dos mass media e da publicidade. Com excessiva facilidade, conservadores e mesmo analistas marxistas concordaram em censurar o caráter comercial dessas atividades. Essas acusações não atingem o cerne da questão.
Que esse Estado seja aceito e voluntariamente suportado pela maioria, é hoje a mais importante façanha que tem como escopo a aura da indústria da consciência. A ambiguidade que existe nessa situação, de que a “indústria da consciência” precisa sempre oferecer aos seus consumidores aquilo que depois lhes quer roubar, repete-se e aguça-se quando se pensa em seus produtores: os intelectuais. Estes não dispõem do aparato industrial, mas o aparato industrial é que dispõe deles; mas também essa relação não é unívoca. Muitas vezes acusou-se a indústria da consciência de promover a liquidação de “valores culturais”. O fenômeno demonstra em que medida ela depende das verdadeiras minorias produtivas. Na medida em que ela rejeita seu trabalho por considerá-lo incompatível com sua missão política, ela se vê dependendo dos serviços de intelectuais oportunistas e da adaptação do antigo, que está apodrecendo sob as suas mãos. Os mandantes da “indústria da consciência”, não importa quem sejam, não podem lhe comunicar suas energias primárias. Devem-nas àquelas minorias a cuja eliminação ela se destina, melhor dizendo: seus autores, a quem desprezam como figuras secundárias ou petrificam como estrelas, e cuja exploração possibilitará a exploração dos consumidores. O que vale para os clientes da indústria vale mais ainda para seus produtores; são eles há um tempo seus parceiros e seus adversários.
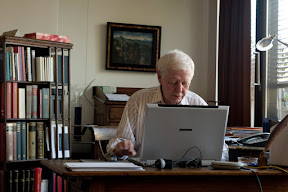
Ocupada com a multiplicação da consciência, ela multiplica suas próprias contradições e alimenta a diferença entre o que lhe foi encomendado e aquilo que realmente consegue executar. É neste sentido que, para Enzensberger, toda crítica analítica à indústria da consciência é inútil ou perigosa se não reconhecer essa ambiguidade. Quanta insensatez se faz neste sentido, já se deduz do fato político de que a maioria dos que a analisam nem refletem sobre sua própria posição; como se a crítica cultural não fosse ela mesma parte daquilo que está criticando, como se houvesse possibilidade de se manifestar sem servir-se da indústria da consciência, ou melhor, sem que a indústria da consciência dela se servisse. Todo o pensamento não dialético perdeu aqui seu direito e não há retorno possível. Perdido também estaria quem, por má vontade contra os aparatos industriais, se recolhesse a uma suposta exclusividade, pois os padrões industriais há muito invadiram as reuniões dos conventículos. É preciso distinguir como na esfera política, entre ser incorruptível e ser derrotista.
Bibliografia geral consultada.
ARON, Raymond, La Société Industriell et la Guerre. Paris: Éditions Plon, 1985; Idem, Dimensions de la Consciense Historique. Paris: Editeur Julliard, 1985; CATARINO, Maria Helena Horta Simões, Mausoleum de Hans Magnus Enzensberger: A Balada Moderna e o Mito do Progresso. Tese de Doutorado em Literatura Alemã. Faculdade de Letras. Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1988; ARCHIBALD, Thomas – “Energy and the mathematization of electrodynamics in Germany, 1845-1875”. In: Archives Internationales d’Histoire des Sciences, nº 39, 1989; ENZENSBERGER, Hans Magnus, Política y Delito. Barcelona: Editorial Seix Barral, 1966; Idem, Para uma Crítica de la Ecología Política. Barcelona: Editorial Anagrama, 1974; Idem, Contribución a la Crítica de la Ecologia Política. Puebla: Universidad Autónoma de Puebla, 1976; Idem, Com Raiva e Paciência: Ensaios sobre Literatura, Política e Colonialismo. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1985; Idem, Eu Falo Dos Que Não Falam. São Paulo: Editora Brasiliense, 1985; Idem, O Curto Verão da Anarquia: Buenaventura Durruti e a Guerra Civil Espanhola. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 1987; Idem, Perspectivas de Guerra Civil. Madrid: Ediciones Anagrama, 1994; Idem, Mediocridade e Loucura. Rio de Janeiro: Editora Ática, 1995; Idem, O Diabo dos Números. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 1997; Idem, O Naufrágio do Titanic. Rio de Janeiro: Editora Companhia das Letras, 2000: CASTILLO, María Dolores Tiestos del, “Los Primeiros Passos de un Agitador de Conciencias en la España de Franco: Traducción y censura de Política y Delito de Hans Magnus Enzensberger”. In: Cartaphilus - Revista de Investigación y Crítica Estética, 4 (2008), 188-195; NICOLAU, Marcos Fabiano Alexandre, O Conceito de Formação Cultural (Bildung) em Hegel. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira. Faculdade de Educação. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2013; HOLLANDA, Bernardo Buarque de, “A Guerra Civil de Hans Magnus Enzensberger”. In: http://gvcult.blogosfera.uol.com.br/2015/03/24/; PONTES, Felipe Simão, Adelmo Genro Filho e a Teoria do Jornalismo no Brasil: Uma Análise Crítica. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2015; MUNHOZ, Marcos Martinez, O Grafite de Alexamenos: O Cotidiano na Imagem do Grafite e a Magia da Imagem. Tese de Doutorado. Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017; entre outros.





Nenhum comentário:
Postar um comentário