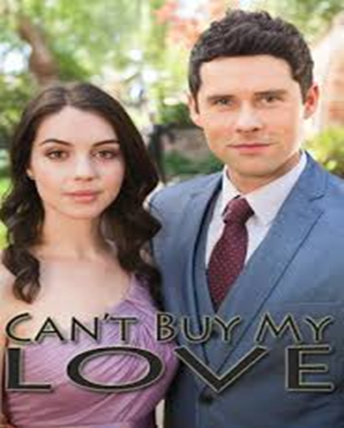“Se você ama, sofre. Se não ama, adoece”. Sigmund Freud
Por
que o amor está, antes de mais anda, absolutamente intricado em seu objeto, e
não simplesmente associado a ele: o objeto do amor em toda a sua significação
categorial não existe antes do amor, mas apenas por intermédio dele. O que faz
aparecer de maneira bem clara que o amor – e, no sentido lato, todo o
comportamento do amante enquanto tal – é algo absolutamente unitário, que não
pode se compor a partir de elementos preexistentes. Totalmente inúteis parecem,
pois, as tentativas de considerar o amor como um produto secundário, no sentido
de que seria motivado como resultante de outros fatores psíquicos primários. No
entanto, ele pertence a um estágio demasiado elevado da natureza humana para
que possamos situá-lo no mesmo plano cronológico e genético da respiração ou da
alimentação, ou mesmo do instinto sexual. Tampouco podemos safar-nos do
embaraço por esta escapatória fácil: em virtude de seu sentido metafísico, de
seu significado atemporal, o amor permanece sem dúvida à primeira – ou última -
ordem dos valores e das ideias, mas sua realização humana ou psicológica
colocá-lo-ia num estágio ulterior de uma série longa e complexa na evolução
contínua da vida. Não podemos nos satisfazer com essa estranheza recíproca de
seus significados ou de suas areações. O problema de seu dualismo é aí,
reconhecido e bem expresso, mas não resolvido; determo-nos nessa
conclusão seria duvidar de sua solubilidade.
O amor é uma das grandes categorias sociais que dá forma ao existente, mas isso é dissimulado tanto por certas realidades psíquicas como in fieri por certos modos de representações teóricas. Não há dúvida que o efeito amoroso desloca e falsifica inúmeras vezes a imagem objetivamente reconhecível de seu objeto e, nessa medida, é decerto geralmente reconhecido, segundo Simmel, como “formativo”, mas de uma maneira que não pode visivelmente parecer coordenada com as outras forças espirituais que dão forma. Trata-se, portanto, aqui, de uma imagem já existente que se encontra modificada em sua determinação qualitativa, sem que se tenha abandonado seu nível de existência teórica, nem criado um produto de uma nova categoria. Essas modificações que o amor já presente traz à exatidão objetiva da representação nada têm a ver com a criação inicial que produz o ser amado como tal. Na verdade, todas essas categorias são coordenadas, por sua significação, quaisquer que sejam o momento ou as circunstâncias em que elas atuam. E o amor é uma delas, na medida em que cria seu objeto como produto totalmente original. É preciso, antes de mais anda, que o ser humano exista e seja conhecido, antes de ser amado. Mas esse algo que acontece não tem lugar com esse ser existente que permaneceria não modificado, foi, ao contrário, no sujeito que uma nova categoria fundamental se tornou criadora. Do mesmo modo que eu, amante, sou diferente do quer era antes – pois não é determinado “aspecto” meu, determinada energia que ama em mim, mas meu ser inteiro, o que não precisa uma transformação visível de todas as minhas outras manifestações -, também ele enquanto tal, é um outro, nascendo de outro a priori que não o ser conhecido ou temido, indiferente ou venerado.
O amor é sempre uma dinâmica que se gera, Para Simmel (1993) por assim dizer, a partir de uma autossuficiência interna, sem dúvida trazida, por seu objeto exterior, do estado latente ao estado atual, mas que não pode ser, propriamente falando, provocada por ele; a alma o possui enquanto realidade última, ou não o possui, e nós não podemos remontar, para além dele, a um dos movens exterior ou interior que, de certa forma, seria mais que sua causa ocasional. É esta a razão mais profunda que torna o procedimento de exigi-lo, a qualquer título legítimo que seja totalmente desprovido de sentido. Sequer sua atualização dependa sempre de um objeto, e se aquilo que chamamos de desejo ou necessidade de amor – esse impulso surdo e sem objeto, em particular na juventude, em direção a qualquer coisa a ser amada – já não é amor, que por enquanto só se move em si mesmo, digamos um amor em roda livre. Seguramente, a pulsão em direção a um comportamento poderá ser considerada como o aspecto afetivo do próprio comportamento, ele próprio já iniciado; o fato de nos sentirmos “levados” a uma ação significa que a ação já começou anteriormente e que seu acabamento não é outra coisa que o desenvolvimento ulterior dessas primeiras inervações. Onde, apesar do impulso sentido, não passamos à ação, isso se dá seja porque a energia não basta para ir além desses primeiros elos da ação, seja porque ela é contrariada por forças opostas, antes mesmo que esses primeiros elos já anunciados à consciência tenham podido se prolongar num ato visível. A possibilidade real, a ocasião apriorística desse modo de comportamento que chamamos amor, fará surgir, se for o caso, e levará à consciência, como um sentimento obscuro e geral, inicial de sua própria realidade, antes mesmo que a ele se some a incitação por um objeto determinado para levá-lo a seu efeito acabado.
A
existência desse impulso sem objeto, por assim dizer incessantemente fechado em
si, acento premonitório do amor, puro produto do interior e, no entanto, já
acento de amor, é a prova mais decisiva em favor da essência central puramente
interior do fenômeno amor, muitas vezes dissimulado sob um modo de
representação pouco claro, segundo o qual o amor seria uma espécie de surpresa
ou de violência vindas do exterior, tendo su símbolo mais pertinente no “filtro
do amor”, em vez de uma maneira de ser, de uma modalidade e de uma orientação
que a vida como tal toma por si mesma – como se o amor viesse de seu objeto,
quando, na realidade, vai em direção a ele. De fato, o amor é o sentimento que,
fora dos sentimentos religiosos, se liga mais estreita e mais incondicionalmente
a seu objeto. À acuidade com a qual ele brota do sujeito corresponde a acuidade
igual com que ele se dirige para o objeto. O que é decisivo aqui é que nenhuma
instância de caráter geral vem se interpor. Se venero alguém. É pela mediação
da qualidade de certo modo geral de venerabilidade que, em sua realidade
particular, permanece ligada à imagem desse por tanto tempo quanto eu o
venerar. Do mesmo modo, no homem que temo, o caráter terrível e o motivo que o
provocou estão intimamente ligados; mesmo o homem que odeio não é, na maioria
dos casos separado em minha representação da causa desse ódio – é esta uma das
diferenças entre amor e ódio que desmente a assimilação que comumente se faz
deles. Mas o específico do amor é excluir do amor existente a qualidade
mediadora de seu objeto, sempre relativamente geral, que provocou o amor por
ele. Ele permanece como intenção direta e centralmente dirigida para esse
objeto, e revela a sua natureza verdadeira e incomparável nos casos em que
sobrevive ao desaparecimento indubitável do que foi sua razão de nascer.
Essa
constelação, que engloba inúmeros graus, desde a frivolidade até a mais alta
intensidade, é vivida segundo o mesmo modelo, seja em relação a uma mulher ou a
um objeto, a uma ideia ou a um amigo, à pátria ou a uma divindade. Isso deve
ser solidamente estabelecido em primeiro lugar, se quisermos elucidar em sua
estrutura seu significado mais restrito, o que se eleva no terreno da
sexualidade. A ligeireza com que a opinião corrente alia instinto sexual a amor
lança talvez uma das pontes mais enganadoras na paisagem psicológica
exageradamente rica em construções desse gênero. Quando, ademais, ela penetra
no domínio da psicologia que se dá por científica, temos com demasiada
frequência a impressão de que esta última caiu nas mãos de açougueiros. Por
outro lado, o que é óbvio, não podemos afastar pura e simplesmente essa
relação. Nossa emoção sexual, afirma Simmel, desenrola-se em dois níveis de
significação. Por trás do arrebatamento e do desejo, da realização e do prazer
sentidos, diretamente subjetivos, delineia-se, consequência disso tudo, a
reprodução da espécie. Pela propagação contínua do plasma germinal, a vida
corre infinitamente, atravessando todos estágios ou levada por eles de ponta a
ponta. Por mais insuficiente, por mais preso a um estreito simbolismo humano
que esteja o conceito de objetivo e de meios em presença da misteriosa
realização da vida, devemos qualificar essa emoção sexual de meio de que a vida
se serve para a manutenção da espécie, confiando aqui a consecução desse
objetivo não mais a um mecanismo (no sentido lato) mas a mediações
psíquicas.
Enfim,
a pulsão, dirigida a princípio, tanto no sentido genérico quanto no
sentido hedonista, ao outro sexo enquanto tal, parece ter diferenciado cada vez
mais seu objeto, à medida que seus suportes se diferenciavam, até
singularizá-lo. Claro, a pulsão não se torna amor pelo simples fato de sua
individualização; esta última pode ser refinadamente hedonista, ou instinto
vital-teleológico para o parceiro apto a procriar os melhores filhos. Mas, indubitavelmente, ela cria uma disposição
formativa e, por assim dizer, um marco para essa exclusividade que constitui a
essência do amor, mesmo quando seu sujeito se volta para uma pluralidade de
objetos. Não duvidamos em absoluto que no seio do que se chama “atração dos
sexos” constitui-se o primeiro factum, ou, se quiserem, a prefiguração do amor.
A vida se metamorfoseia também nessa produção, traz sua corrente à altura dessa
onda, cuja crista, porém, sobressai livremente acima dela. Se considerarmos o
processo da vida absolutamente como um dispositivo de mios a serviço desse objetivo
- a vida – es e levarmos em conta o significado simplesmente efetivo do amor
para a propagação da espécie, então este também é um dos meios que a vida se dá
para si e a partir de si.
Na
sociologia, o conceito de “individuação” é utilizado pelo sociólogo Danilo
Martuccelli, na sua entrevista: “Como os indivíduos se tornam indivíduos”, ele
ressalta a importância de estudar os fenômenos sociológicos através da ótica
dos indivíduos, o que ele chama de teoria da individuação. Segundo o mesmo,
estudar a realidade segundo as vivências históricas particulares, nos auxilia
no processo social de compreensão dos mecanismos responsáveis pela produção de
sujeitos em diversos contextos históricos. A individuação é um fenômeno que se
mostra eficiente para desvendar os problemas sociais, portanto, uma excelente formação
de estudo sociológico, podendo ser aplicada a qualquer fenômeno. Dessa forma, o
entendimento de cada problema ou manifestação social deve ser analisado do
microcosmo para o macrocosmo, traduzindo a nível de experiências individuais os
grandes desafios coletivos de uma sociedade. A individuação dos sujeitos se
desenvolve quando estes se veem envoltos pelas forças dos processos de racionalização
e aceitação social condicionantes. Todos os sujeitos estão destinados a encarar
as mesmas dificuldades, o que psicologicamente Martuccelli denomina de “prova”. Porém a resposta
de cada um será diretamente proporcional à sua própria caraterização contida na identidade, posição
social, raça, gênero e recursos.
Daí
nasce a questão individuação. Esse processo também é derivado da variação entre
sociedades e também entre períodos históricos. Ainda sobre o conceito de
“provas”, segundo Martuccelli, são desafios estruturais que podem variar. É
importante ressaltar que tais provas não são determinantes, ou seja, não
definem o futuro e a identidade dos sujeitos, mas podem influenciá-los. E através
de provas comuns é que se produzem indivíduos singulares. A noção de prova
possui quatro aspectos: o primeiro se refere à percepção dos indivíduos frente
a situações difíceis. O segundo, diz respeito às respostas ou reações dos
indivíduos frente a tais dificuldades reais. O terceiro aspecto menciona o
caráter seletivo de tais provas. O sujeito poderá obter sucesso ou falhar. E
por último, cada sociedade possui um conjunto de provas que podem ser mais ou
menos pré-determinadas. Neste mesmo raciocínio, encontramos também, nos textos
de Martuccelli, a noção de “suporte”. Esse conceito está baseado no fato
de que os indivíduos necessitam se estruturar para se manterem firmes frente à
sociedade, uma vez que ser um indivíduo implica na soberania sobre si mesmo e
na diferenciação em relação aos demais. Esses suportes estarão diretamente
relacionados às respostas que os indivíduos dão ao enfrentarem uma prova, e podem ou não garantir o sucesso do sujeito.
A
individuação, conforme descrita por Jung, é um processo através do qual
o ser humano evolui de um estado infantil de identificação para um estado de
maior diferenciação, o que implica uma ampliação da consciência. Através desse
processo, o indivíduo identifica-se menos com as condutas e valores encorajados
pelo meio no qual se encontra e mais com as orientações emanadas do si-mesmo,
a totalidade, entenda-se totalidade como o conjunto das instâncias psíquicas
sugeridas por Carl Jung, tais como persona, sombra, self, etc. de sua
personalidade individual. Jung entende que o atingir da consciência dessa
totalidade é a meta de desenvolvimento da psique, e que eventuais resistências
em permitir o desenrolar natural do processo de individuação é uma das causas
do sofrimento e da doença psíquica, uma vez que o inconsciente tenta compensar
a unilateralidade do indivíduo através do princípio da enantiodromia. Jung
ressaltou que o processo de individuação não entra em conflito com a norma
coletiva do meio no qual o indivíduo se encontra, uma vez que esse processo tem
como condição para ocorrer que o ser tenha conseguido adaptar-se e inserir-se
com sucesso em seu ambiente, tornando-se um membro ativo de sua comunidade. O
psicólogo suíço afirmou que poucos indivíduos alcançavam a meta da individuação mais ampla. Um dos passos necessários para tanto seria a
assimilação das quatro funções, a saber, sensação, pensamento, intuição e
sentimento, conceitos definidos por Jung em sua teoria dos tipos psicológicos.
Em
seus estudos sobre a alquimia, Jung identificou a meta da individuação como
sendo equivalente à Opus Magna, ou Grande Obra dos alquimistas. A
individuação também pode ser compreendida em termos globais como o processo que
cria o mundo e o leva a seu destino (cf. Rocha Filho, 2007), não sendo, por
isso, uma exclusividade humana. A individuação, neste contexto literário, se
identifica com o mecanismo de autorrealização, ou primeiro motor do universo. Numa
formulação próxima dos estudos em comunicação, de acordo com Samuel Mateus, “tomar
o indivíduo segundo as formas de individuação significa, assim, a capacidade de
incluir a singularidade na pluralidade (e vice-versa), bem como de assimilar
uma diversidade de manifestações heterogéneas - por vezes incoerentes entre si
- num todo aglutinante que molda a autoconsciência individual. Significa também
incorporar modos de interpretação do indivíduo fundados nas relações
tensionais, interdependentes e imprevisíveis operadas entre um indivíduo que
oscila entre a singularidade e a pluralidade, entre um polo individual e um polo
social”. Esta última noção trabalha o conceito de individuação a partir da Sociologia tendo uma clara
filiação social nos trabalhos de Georg Simmel e Norbert Elias.
A perspectiva da individuação segundo
Martuccelli, ressalta a importância de estudar os fenômenos sociológicos
através da ótica dos indivíduos, o que ele irá chamar de “teoria da
individuação”. De acordo com a sua interpretação, estudar a realidade segundo
as vivências históricas particulares, nos auxilia no processo de compreensão
dos mecanismos responsáveis pela produção de sujeitos culturais em diversos
contextos. A individuação é por ele considerada um fenômeno que se demonstra com
eficácia simbólica para desvendar os problemas sociais e é considerada uma
excelente ferramenta de estudo sociológico passível de ser aplicada a qualquer
fenômeno. Um estudo da The Psychologist, uma publicação oficial da British
Psychological Society, concluiu que o amor doentio deveria ser levado mais
a sério pelos profissionais. De acordo com o autor do estudo, Frank Tallis
(2019), “muitas pessoas necessitam de ajuda por não poder lidar com a
intensidade do amor e têm sido desestabilizadas por causa disso, ou sofrem pela
não-correspondência de seu amor”. Especializado em transtornos obsessivos,
leciona psicologia clínica e neurociência e realiza frequentemente palestras no
Instituto de Psiquiatria e Neurociência no King’s College London. Publicou mais
de trinta artigos científicos em revistas internacionais e escreveu mais de vinte
obras.
Publicou tanto obras acadêmicas quanto ensaios psicológicos para um público amplo, mas também é autor de romances: Killing Time e Sensing Others pelos quais recebeu o Writer’s Award e New London Writer’s Award. Sua série, The Liebermann Papers obteve reconhecimento imediato pelos críticos e pelo público. Alguns dos sintomas associados ao chamado “amor doentio” incluem: mania de conservar o humor anormalmente elevado, autoestima excessivamente alta, presentes extravagantes; depressão, apresentando choro excessivo, insônia, mas perda de concentração; transtorno obsessivo-compulsivo relacionado à preocupação, verificação constante de mensagens de texto e e-mails, acumulação de compulsiva de objetos; sintomas físicos de fundo psicológico, como dores de estômago, mudanças contumazes no apetite, tontura e confusão mental. Mais especificamente, os níveis estimados de serotonina em pessoas que se apaixonam decaem ao mesmo nível de pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo. Mais ainda, investigações da atividade do cérebro mostraram que indivíduos que se disseram “verdadeiramente, profundamente e loucamente” apaixonados têm atividade em várias estruturas cerebrais compatíveis com o transtorno obsessivo-compulsivo, como o núcleo caudado e certas áreas do córtex.
O
amor doentio é um termo não-médico usado para descrever sintomas físicos
e mentais associados a uma “paixão extremada”. É um termo que designa um sentimento
muito forte de atração por uma pessoa, objeto ou tema. Sentimentos são o
que seres biológicos são capazes de sentir nas situações que vivenciam. Por
exemplo, medo é uma informação de que há risco, ameaça ou perigo direto para o
próprio ser ou para interesses correlatos. A empatia é informação sobre os
sentimentos dos outros. Esta informação não resulta necessariamente na mesma
reação entre os receptores, mas varia, dependendo da competência em lidar com a
situação, e como isso se relaciona com experiências passadas e outros fatores. O
sistema límbico é a parte do cérebro que processa os sentimentos e
emoções. Sentimentos humanos podem ser estudados por diversos métodos,
como via biologia, fisiologia, filosofia, matemática ou psicologia. Na
superfície medial do cérebro dos mamíferos, o sistema límbico representa a
unidade responsável pelas emoções e comportamentos sociais. É uma região
constituída de neurônios, células que formam uma massa cinzenta denominada de
lobo límbico. Originou-se a partir da emergência dos mamíferos antigos em nosso
habitat. Através do sistema nervoso autônomo, ele comanda comportamentos
necessários à sobrevivência dos mamíferos, interferindo positiva ou
negativamente no funcionamento visceral e na regulamentação metabólica do
organismo. O termo límbico corresponde a um adjetivo que dá suporte ao
valor de relativo ou pertencente ao limbo, ou seja, remete para o conceito socialmente
de margem.
O
Sistema Límbico compreende “todas as estruturas cerebrais que estejam
relacionadas”, principalmente, com comportamentos emocionais e sexuais,
aprendizagem, memória, motivação, mas também com algumas
respostas homeostáticas. Resumindo, a sua principal função será a integração de
informações sensitivo-sensoriais com o estado psíquico interno, onde é
atribuído um conteúdo afetivo a esses estímulos, a informação é registrada e relacionada
com as memórias preexistentes, o que leva à produção de uma resposta emocional
adequada, consciente e/ou vegetativa. Estas formações podem dividir-se em componentes
corticais e componentes subcorticais, estando associadas a esta região cerebral
um conjunto de estruturas que, contribuem para a execução das funções deste
sistema. Enumerando os componentes corticais pertencentes ao Sistema Límbico
podemos observar o hipocampo e o lobo límbico de Broca. “Le grande lobe
limbique”, foi o termo criado em 1878, por Pierre-Paul Broca (1824-1889),
referente ao conjunto de estruturas que se situam anatomicamente em volta do
tronco encefálico, na face interna (medial) e inferior dos hemisférios
cerebrais. Em 1664, Thomas Willlis (1621-1675) designou o anel cortical que
circundava o tronco cerebral de cerebri limbus. Quanto aos componentes
subcorticais é possível diferenciar as amígdalas (núcleos amigdalinos), a área
septal, os corpos mamilares, os núcleos anteriores do tálamo, os núcleos
habenulares e os núcleos Accumbens. Os componentes cerebrais associados ao Sistema
Límbico são o Tronco Cerebral, o Hipotálamo, o Tálamo, a Área Pré-frontal e o
Rinencéfalo (Sistema Olfativo).
Pierre
Paul Broca (1824-1880) foi um cientista, médico, anatomista e antropólogo
francês. Formado em medicina aos 20 anos, logo se tornou professor de patologia
cirúrgica da Universidade de Paris e um renomado pesquisador médico em diversas
áreas. Ficou conhecido pela sua descoberta da área cerebral da linguagem (Área
de Broca), cujo feito lhe rendeu uma posição como um dos 72 nomes homenageados
na Torre Eiffel. Paul Broca foi um cirurgião e antropólogo francês que nasceu
em Sant-Foy-la-Grande, em 1824. Entrou na escola de medicina aos 17 anos,
formando-se aos 20 anos, quando a maioria de seus contemporâneos ainda estava
iniciando seus estudos em medicina. Estudou medicina na Universidade de Paris,
onde logo se tornou professor de patologia cirúrgica e um médico pesquisador
notável. Especializou-se em muitas áreas, como, por exemplo, em a anatomia e em
histologia. Aos 24 anos já havia sido premiado com muitas medalhas e posições
importantes. Realizou diversos trabalhos científicos sobre a histologia da cartilagem
e dos ossos, a patologia do câncer, o tratamento dos aneurismas e a mortalidade
infantil. Sendo um excelente neuroanatomista, faz contribuições importante
acerca do sistema límbico. Ele funda, em 1848, uma sociedade de
livres-pensadores e se simpatiza pela teoria da seleção natural de Darwin.
Escreve vários livros e artigos, sendo que, 53 foram dedicados aos estudos
sobre o cérebro. Ele também se dedicou à assistência aos pobres e foi célebre figura na Assistance Publique.
Broca
também é um pioneiro em antropologia física. Ele fundou a Sociedade de
Antropologia de Paris, em 1859, a Revue d`Anthropologie em 1872, e a
Escola de Antropologia, em Paris, em 1876. Outra área de conhecimento em que se
dedicou foi a anatomia comparativa dos primatas. Ele descreveu pela primeira
vez trepanações que remontam ao Neolítico. Era muito interessado nas relações
entre a anatomia do crânio e do cérebro e as habilidades mentais e
inteligência. Já no final de sua vida, é eleito membro vitalício do Senado da
França, sendo também um membro da Academia Francesa de Ciências. Ele recebeu
graus honoríficos de muitas instituições do saber, na França e no exterior.
Paul Pierre Broca morre em Paris, em 1880. Apesar de ter sido um renomado
cientista e pesquisador, o que confere a Broca o lugar na história da medicina
é a sua descoberta do “centro da linguagem” no cérebro, na região do lobo
frontal. Broca foi influenciado pelos esforços de Franz Joseph Gall em mapear
as funções superiores no encéfalo; contudo, em vez de correlacionar o
comportamento com calombos no crânio, ele correlacionou evidências clínicas de
afasia com lesões encefálicas descobertas em exames post-mortem. Em 1861, ele
escreveu: - “Eu acreditava que, se houvesse uma ciência frenológica, seria a
frenologia das circunvoluções (no córtex), e não a frenologia dos calombos (na
cabeça)”. Com base nessa percepção sensorial, Paul Broca fundou a
neuropsicologia, uma importante ciência dos processos mentais que ele
diferenciou da frenologia de Gall.
A
paixão é intensa, envolvente, um entusiasmo ou um desejo forte por qualquer
coisa. O termo também é aplicado com frequência para designar um vívido
interesse ou admiração por um ideal, causa ou atividade. Em suma, é um
sentimento intenso. A palavra paixão é vulgarmente usada para exprimir uma “pulsão
romanesca”, ou desejo sexual, em todo o caso mais profunda ou mais abrangente
que a luxúria. Historicamente o amor doentio tem sido visto como uma doença
mental ocasionada pelas mudanças intensas associadas ao amor. O polímata persa
Avicena, reconhecido como o “pai da medicina moderna”, via a obsessão como
principal sintoma e causa do amor doentio. O diagnóstico caiu aparentemente em
desuso desde que o modelo dos quatro humores foi abandonado com o advento da
psiquiatria científica moderna. O conceito de estar “louco” de amor não é
simplesmente uma representação poética. Para alguns intérpretes, os altos e
baixos do chamado “amor doentio” podem ter similaridades de diagnóstico com as próprias
doenças mentais. Pessoas que passam por um amor muito intenso podem sofrer “amor doentio” com sensações mobilizadas de ansiedade, sintomas de mania, transtorno obsessivo-compulsivo, autoestima excessivamente
alta e depressão.
Reconhecido
como Ibn Sīnā ou por seu nome latinizado Avicena, foi um polímata persa que
escreveu tratados sobre vários assuntos, dos quais aproximadamente duzentos e
quarenta chegaram aos nossos dias. Em particular, cento e cinquenta destes
tratados se concentram em filosofia e quarenta em medicina. As suas obras mais
famosas são o “Livro da Cura”, que representa a vasta enciclopédia filosófica e
científica, e o “Cânone da Medicina”, que era o texto padrão em muitas
universidades medievais, entre elas a extraordinária Universidade de
Montpellier e a Universidade Católica de Leuven, ainda em 1650. Ela apresenta
um sistema completo de medicina em acordo com os princípios per se de
Galeno e Hipócrates. Suas demais obras incluem ainda escritos sobre filosofia,
astronomia, alquimia, geografia, psicologia, teologia islâmica, lógica,
matemática, física, além de poesia. Ele é considerado o mais famoso e influente
polímata da Era de Ouro Islâmica. Avicena criou um extenso corpus
literário durante esta época, na qual traduções de textos greco-romanos, persas
e indianos foram extensivamente estudados.
Textos
greco-romanos (médio, neoplatônicos e aristotélicos) da escola de Alquindi
foram comentados, foram novamente editados e foram substancialmente
desenvolvidos pelos intelectuais islâmicos, que também evoluíram a partir de
sistemas matemáticos, astronômicos, de álgebra, trigonometria e medicina hindus
e persas. A dinastia Samânida, na parte oriental da Pérsia, chamada de Coração
e na Ásia Central e também a dinastia buída na parte ocidental da Pérsia e do
Iraque estimularam uma atmosfera propícia para o desenvolvimento cultural e
acadêmico. Sob os samânidas, Bucara rivalizava com Bagdá como a capital
cultural do mundo islâmico. O estudo do Corão e do hádice floresceu neste
ambiente. A filosofia (Fiqh) e a teologia (calam) também se
desenvolveram pelas mãos de Avicena e seus adversários. Arrazi e Alfarábi
providenciaram a metodologia e o conhecimento necessário sobre medicina e
filosofia. Avicena teve acesso às grandes bibliotecas de Bactro, Corásmia,
Gurgã, Rei, Ispaã e Hamadã. Vários textos como o ´Ahd with Bahmanyar mostram
que ele debateu pontos filosóficos com os grandes acadêmicos de seu tempo.
Arruzi Samarcandi descreve como Avicena, antes de deixar Corásmia, conhecera
Albiruni, famoso cientista e astrônomo, Abu Nácer Iraqui renomado matemático,
Abu Sal Macii respeitado filósofo e Abu Alcair Camar importante médico.
A
única fonte de informações para a primeira parte da vida de Avicena é a sua
autobiografia, escrita por seu discípulo, Jūzjānī. Ele foi o famoso aluno de Avicena,
que conheceu em Gorgan. Ele passou muitos anos com seu mestre em Isfahan,
tornando-se seu companheiro de vida. Após a morte de Avicena, ele completou a
Autobiografia de Avicena com uma seção conclusiva. O historiador Ibn Abi
Usaibia refere que Avicena e sua próxima companheira Abu Ubayd viviam juntos na
residência do xeque al-Raiss que é o título dado a Avicena e costumavam passar
cada noite estudando um por um o Cânone e as instruções de Shifā. Como
dizíamos, na falta de outras, é impossível ter certeza do quanto dela é
verdadeiro. Foi observado que ele utiliza sua autobiografia para avançar a sua
teoria do conhecimento de que é impossível para um indivíduo adquirir
informações e compreender a ciência filosófica aristotélica sem ser um mestre e
já se questionou se a cronologia dos eventos descrita não está ajustada para se
conformar de forma mais perfeita ao modelo aristotélico. Em outras palavras, se
Avicena descreveu a si estudando na “ordem correta”. Porém, dada a ausência de
quaisquer outras evidências, o relato deve ser tomado pelo literalmente. Avicena
teria nascido por volta de 980 d.C. perto de Bucara, atualmente no Uzbequistão,
a capital dos Samânidas, uma dinastia persa na Ásia Central e no Grande
Coração). Sua mãe, Setaré, era também de Bucara, e seu pai,
Abedalá, seria um respeitado acadêmico ismailita de Balque, uma importante cidade
do Império Samânida, no que é a Província de Balque, no Afeganistão.
Seu
pai foi, na época do nascimento de seu filho, o zelador das propriedades do
samânida Nuh ibn Mansur. Ele educou seu filho cuidadosamente em Bucara e diz
que não havia mais nada que ele não tivesse aprendido já aos dezoito anos. De
acordo com a sua autobiografia, Avicena já tinha memorizado todo o Corão aos
dez anos. Ele aprendeu aritmética indiana de um verdureiro indiano e começou a
aprender mais de um sábio errante que ganhava a vida curando os doentes e
ensinando os jovens. Ele também estudou a Fiqh sob o acadêmico hanafi Ismail
al-Zahid. Ibn Sīnā escreveu extensivamente sobre a filosofia islâmica
primitiva, especialmente nos temas de lógica, ética e metafísica. A maior parte
de suas obras foram escritos em árabe, que era a linguagem científica “de
facto’’ na história no Oriente Médio, e algumas em persa. Na Idade de ouro
islâmica de sucesso de Avicena em reconciliar o neoplatonismo e o aristotelismo
com o calam, o “avicenismo” se tornou a principal escola de filosofia
islâmica no século XII, com Avicena assumindo um papel de autoridade maior no
assunto. O “avicenismo” também teve influência na Europa medieval,
particularmente as suas doutrinas sobre a alma e a distinção entre
existência-essência, principalmente por causa dos debates e tentativas de
censura que elas provocaram na Europa escolástica. Essa situação foi
particularmente visível em Paris, onde o “avicenismo” foi proscrito em 1210.
Mesmo assim, a sua psicologia e a sua teoria do conhecimento influenciaram
Guilherme de Auvérnia e Alberto Magno, enquanto que a sua metafísica teve
impacto no pensamento de Tomás de Aquino.
Bibliografia
Geral Consultada.
BECKER, Howard, Los Extraños. Buenos Aires: Editorial Tiempo Contemporâneo, 1971; GOFFMAN, Erving, Estigma: Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1975; GUERRA, Francisco, História de la Medicina. Madrid: Ediciones Norma, 1982; THOMPSON, Edward Palmer, A Formação da Classe Operária Inglesa. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1987; COSTA, Jurandir Freire, A Inocência e o Vício: Estudos Sobre o Homoerotismo. 2ª edição. Rio de Janeiro: Editor Relume-Dumará, 1992; SIMMEL, Georg, Filosofia do Amor. Rio de Janeiro: Editora Martins Fontes, 1993; AMMAR, Sleim, Ibn Sina Avicenne, la Vie & l`Oeuvre. Paris: Editeur L`Or du Temps, Coll. Quartz, 1992; MORIN, Edgar, A Cabeça Bem Feita: Repensar a Reforma, Reformar o Pensamento. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 2000; DIAS, José Pedro Sousa, A Farmácia e a História - Uma introdução à História da Farmácia, da Farmacologia e da Terapêutica. Faculdade de Farmácia. Lisboa: Universidade de Lisboa, 2005; GAZZANIGA, Michael, Neurociência Cognitiva: A Biologia da Mente. 2ª edição. Porto Alegre: Artmed Editora, 2006; ROCHA FILHO, João Bernardes, Física e Psicologia. As Fronteiras do Conhecimento Científico Aproximando a Física e a Psicologia Junguiana. Porto Alegre: Editora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2007; BEAR, Mark; CONNORS, Barry; PARADISO, Michael, Neurociências: Desvendando o Sistema Nervoso. 3ª edição. Porto Alegre: Artmed Editora, 2008; MATEUS, Samuel, “O Indivíduo Pensado como Forma de Individuação”. In: Estudos em Comunicação, nº10, 2011, pp. 91-103; FRANÇA, Aniela Improta, “Teoria Fonológica, Arquitetura e Variação de Gramática: Apresentação”. In: Revista Linguística. Volume 7, n° 2, dezembro, 2011; KANDEL, Eric, Princípios de Neurociências. Estados Unidos, 2013; PENNA, Eloisa, Epistemologia e Método na Obra de C G Jung. São. Paulo: Editora da PUC/SP, 2013; MARTUCCELLI, Danilo, La Condition Sociale Moderne. L`Avenir d`une Inquiétude. Paris: Éditeur Gallimard, 2017; McGraw-Hill TALLIS, Frank, Românticos Incuráveis. Quando o Amor é uma Armadilha. 1ª edição. São Paulo: Faro Editorial, 2019; ZICCARDI, Victoria Vera, “Tratamento de silêncio: o tipo de abuso psicológico que pode levar a problemas de saúde”. In: https://oglobo.globo.com/saude/noticia/2025/03/22/; entre outros.