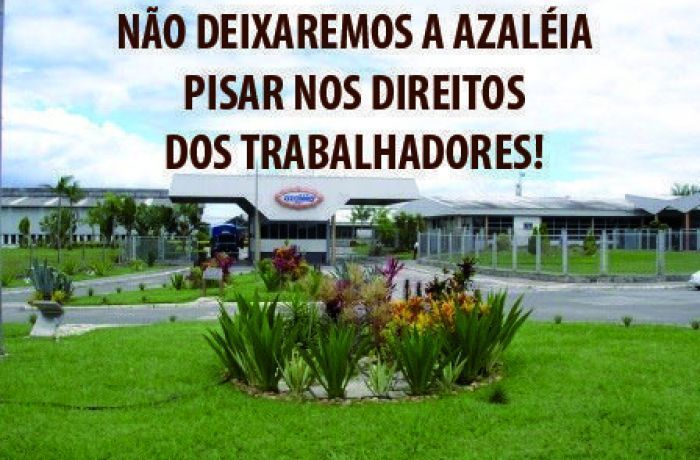Ubiracy
de Souza Braga*
“Vladimir
Putin, tsar of the new Russia”. Nadezhda Tolokonnikova
Em primeiro
lugar, a palavra “carta” origina-se do Latim: “charta”, “chartae”,
ou, “cartae”, cujo significado é “folha de papiro preparada para receber a
escrita”.
Em 5 de agosto de 1940, o país independente da Letônia
foi forçado pelo regime soviético a se incorporar à República Socialista Federativa
Soviética Russa, depois de ter sido invadido e ocupado pelo Exército Vermelho naquele
ano. A Estônia e a Lituânia sofreram um destino político semelhante. Milhares
de letões foram presos por terem opiniões antissoviéticas, participarem de
movimentos sociais de resistência política, por serem fazendeiros, pertencerem
a partidos políticos, ou se recusarem a participar de uma fazenda coletiva.
Muitos foram deportados para a região da insólita Sibéria.
Homens e mulheres que se encontravam nas prisões,
campos de concentração ou assentamentos na Sibéria escreveram cartas aos amigos e parentes em casca de
bétula, que era muitas vezes o único material disponível nos locais de
deportação. Este foi especialmente o caso durante na 2ª guerra mundial (1939-1945), quando
o papel era muito escasso socialmente. Somente 19 dessas cartas, com datas entre
1941 e 1956, sobrevivem como preservação da memória individual e coletiva em
museus da Letônia. Estas cartas revelam
a história da Letônia e da era soviética e os efeitos específicos da repressão
em massa na vida das pessoas. Foi escrita em maio de 1949 por Gaida
Eglite (1927-2008), uma deportada da região de Tomsk, à sua ex-vizinha, Laura
Rozenštrauha.
Em
segundo lugar, é atribuído ao líder sul-africano Nelson Rolihlahla Mandela a
frase de que para conhecer uma sociedade, “é necessário conhecer suas prisões”.
O conhecimento do Gulag soviético necessita que olhemos mais de perto do status social do preso. Sabemos que nos
regimes nazista e imperialista que domina a África e Ásia, o prisioneiro não é
um cidadão, com direitos civis que irá passar por um processo social educativo,
pelo contrário. O preso é o “inimigo número 1”, um sujeito a ser eliminado, a
chamada “raça inferior” que envenena o mundo europeu com sua impureza e precisa
ser exterminado. Os primeiros “campos de concentração” da história política moderna
foram criados na África pelo imperialismo europeu. A função era bem clara: terror
e extermínio. O século XX expandiu os campos de concentração “e seu nome virou
sinônimo de uma prisão brutalizante em condições extremamente degradadas”.
Contudo, não podemos perder de vista que o campo tem uma função específica dentro
dos aparelhos repressivos de Estado: a função de propagar o terror, psicológico
e físico e o extermínio de certa cultura e/ou raça, nacionalidade, grupo
político ou religioso.
Enquanto
as revoluções sociais englobam eventos que vão desde as revoluções
relativamente pacíficas às contrarrevoluções que puseram fim aos regimes
comunistas à violenta revolução islâmica no Afeganistão, que excluem golpes de
Estado, guerra civil, revoltas e rebeliões que não fazem nenhum esforço para
transformar as instituições ou a justificação da autoridade, como Józef
Piłsudski no golpe de 28 de maio de 1926 ou a Guerra Civil Americana, bem como
a transição pacífica para a democracia através de arranjos institucionais, tais
como plebiscitos e eleições livres, como na Espanha após a morte de Francisco
Franco Bahamonde, chefe de Estado e ditador espanhol, conhecido como “Generalíssimo”,
ou simplesmente Franco, quando integrou o golpe de Estado na Espanha em julho
de 1936 contra o governo democrático da 2ª República, que desembocou na Guerra
Civil Espanhola que se estendeu nos anos de 1936 a 1939.
O
“punho erguido”, também reconhecido como o “punho cerrado”, é um símbolo de
solidariedade política. Também é utilizado como uma saudação para expressar
unidade, força, desafio ou resistência político-social. A saudação remonta a
antiga Assíria como um símbolo em face na violência política. A Assíria foi um
reino acádio semita em torno da região do alto rio Tigre, no Norte da
Mesopotâmia, atual norte do Iraque, e que dominou por diversas vezes ao longo
da história política os impérios existentes naquela região, desde a tomada da
Babilônia até as suas reconquistas. Localizada numa região fértil e num
entroncamento de importantes rotas comerciais, Babilônia tornou-se um destacado
centro econômico e cultural, desenvolvendo uma civilização complexa,
sofisticada e cosmopolita, documentada por muitos registros arqueológicos que
atestam o cultivo da educação, do comércio, da ciência, da utilização de
diversas técnicas e da arte, florescendo num vasto conjunto urbanístico cortado
por canais e rico em monumentos, templos e edificações imponentes. Seu nome vem
de sua capital original, a cidade de Assur. O termo também pode se referir à
região, ou, mais precisamente, ao centro da região onde estes reinos se
localizavam, pois Babilônia aparece tardiamente na história política da
Mesopotâmia, em comparação com outras cidades dessa extraordinária
civilização, como Quixe, Uruque, Ur, Nipur ou Nínive.
Os
descendentes dos assírios ainda habitam o lugar e espaço, histórico e social de
sua origem politicamente determinada, como sobrevivência, formando uma minoria
cristã no Iraque. Na sociedade contemporânea o “punho cerrado” é usado
principalmente por ativistas de esquerda. No espectro político, a esquerda se
caracteriza pela defesa de uma maior igualdade social. Normalmente, envolve uma
preocupação com os cidadãos que são considerados em desvantagem em relação aos
outros e uma suposição de que há desigualdades injustificadas que devem ser
reduzidas ou abolidas tendo como representação poderosos emblemas tais como:
grupos marxistas, anarquistas, comunistas e pacifistas. A saudação com o “punho
fechado” tem sido mais usada ao longo da história social por grupos de esquerda
e de defesa de grupos politicamente oprimidos. A saudação junta sinais de
resistência, solidariedade, orgulho e militância num gesto simples. O “punho
fechado” simboliza a luta por melhores condições de vida e a resistência contra
o fascismo e contra o capitalismo. O gesto alude à resistência, à vitória, ao
êxito na batalha. Já o slogan “¡No pasarán!”, teve sua origem e
significado quando obteve a sua cunhagem em francês durante a 1ª grande guerra
(1914-18), mas, sobretudo, quando foi apropriado historicamente por ativistas
na variedade de movimentos históricos e políticos.
O
uso do espanhol Tolokonnikova do slogan tem origem na Guerra Civil Espanhola
(1936-39) - especificamente a partir de um discurso empolgante dado pelo líder
republicano Dolores Ibárruri-Gómez, conhecido como “La Pasionaria”, durante o
cerco contra a nacionalista falange de Madrid em 18 de julho de 1936. Como
resultado, a própria expressão “Não passará!” tornou-se emblemática para a
resistência da República contra Franco. Ibárruri-Gómez foi um membro
co-fundador do Partido Comunista Espanhol e do movimento social “Mujeres
Antifascistas” - uma organização de mulheres em oposição ao fascismo e de
militância revolucionária. No entanto, essa heroica forma de resistência iria
acabar em fracasso, para que a vitória franquista e os anos de repressão e
censura viessem a depô-la. Apesar disso, o slogan continuou a se propagar, em
última análise, sendo adotado pelos aliados durante a 2ª guerra mundial como
universal de luta política antifascismo. Por que é significativo que a ativista
Nadezhda Andréievna Tolokonnikova tenha se apropriado deste slogan na
Rússia em agosto de 2012? Conscientemente, a sua T-shirt fala de uma
história cultural e política compartilhada entre a Espanha e a União Soviética
no início do século XX. “La Pasionaria” - ela mesma uma militante feminista e
revolucionária - admirou a extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URRSS) e citou Moscou como uma Meca para a esquerda, onde “pode-se receber e
perceber a marcha da humanidade rumo ao comunismo”. A ascensão da ativista
política feminina durante a Segunda República da Espanha - outros incluem María
de la O Lejarraga e María Teresa León - aponta para um manifesto feminista
compartilhado de resistência política.
Esta
imagem talvez capture a reflexão do público de forma mais intensa, porque
alimenta a imagem profundamente arraigada das mulheres como personificação da
nação, da Pátria. E também parece explicar que as próprias mulheres podem ser
vistas e tornarem-se a representação de uma nação reprimida. Este é, em
particular, pertinente para Nadezhda Tolokonnikova, que é mãe. Desse modus
operandi resulta o que se refere a um conjunto de práticas e saberes sociais,
em torno de filosofias individualistas que estão frequentemente em conflito e
dizem respeito à criminalização dos movimentos sociais contemporâneos. Pussy
Riot é um grupo de punk rock feminista russo que encena, em Moscou,
“performances” extemporâneas, de provocação política sobre o estatuto das
mulheres representado pelas jovens Nadezhda Andreyevna Tolokonnikova,
Yekaterina Samutsevich e Maria Alyokhina, contra a campanha do
Primeiro-ministro Vladimir Putin para a presidência da Rússia. Em março de
2012, durante um concerto improvisado e não autorizado na Catedral de Cristo
Salvador de Moscou, as ativistas da banda foram presas e acusadas de
“vandalismo motivado por intolerância religiosa”. Elas representam um movimento
social que conseguiu dar voz à crítica política reprimida contra o sistema de
poder autocrático: a) vigente na Rússia e contra a diluição da linha que o
separa da Igreja Ortodoxa Russa, b) espetacular e criativa na Catedral de
Cristo Salvador em Moscovo, c) um local sagrado utilizado como tática e
estratégia do que as “manifestações de vida”, no sentido
que emprega o filósofo Georg Simmel, tivessem impacto social e político em termos
globais de ativismo político. Etimologicamente Nadezhda representa o
diminutivo de Nádia e significa esperança.
No
caso russo o “culto à personalidade” é uma estratégia de propaganda política
baseada na exaltação das virtudes - reais e/ou supostas - do governante, bem
como da divulgação positiva de sua figura humana. Cultos de personalidade são frequentemente
encontrados em ditaduras militares. Mas também existem em democracias
ocidentais. Historicamente o termo culto à personalidade foi utilizado pela
primeira vez por Nikita Khrushchov no “Discurso secreto” para denunciar Josef
Stalin. Khrushchov citou uma carta do filósofo Marx, que critica o “culto do
indivíduo”. Um culto da personalidade é semelhante à apoteose, exceto que ele é
criado especificamente para os líderes políticos. Incluem cartazes gigantescos
com a imagem do líder, constante bajulação o que inclui os meios de comunicação
e muitas vezes perseguição aos dissidentes do mesmo.
No prefácio de 1938 à sua obra “O ano I da Revolução
Russa”, o revolucionário russo-belga Victor Serge sintetiza o que, na altura
desse ano, representava o resultado das perseguições políticas de Joseph Stalin.
Dentre os homens cujos nomes serão encontrados nas páginas seguintes deste
livro, apenas um sobrevive, Leon Trotsky, perseguido há dez anos e refugiado no
México. Vladimir Lenin, Dzerjinski e Tchitcherin morreram antes, evitando assim
a prostração. Zinoviev, Kamenev, Rykov e Bukharin foram fuzilados. Entre os líderes
combatentes da insurreição de 1917, o herói de Moscou, Muralov, foi fuzilado;
Antonov-Ovseenko, que dirigiu o assalto ao Palácio de Inverno, desapareceu na
prisão; Krylenko, Dybenko, Chliapnikov, Gliebov-Avilov, todos os membros do
primeiro Conselho dos Comissários do Povo, tiveram a mesma sorte, assim como
Smilga, que dirigia a frota do Báltico, e Riazanov; Sokolnikov e Bubnov, do
Bureau político da insurreição foram presos; Karakhan, negociador em
Brest-Litovsk, foi fuzilado; dois primeiros dirigentes da Ucrânia soviética, um
Piatakov, foi fuzilado, e o outro, Racovski, velho alquebrado, na prisão; os
heróis das batalhas de Sviajsk e do Volga, Ivan Smirnov, Rosengoltz e
Tukhatchevski foram fuzilados.

Raskolnikov, posto fora da lei, desapareceu; dos
combatentes dos Urais, Mratchkovsky foi fuzilado, Bieloborodov desapareceu na
prisão; Sapronov e Viladimir Smirnov, combatentes de Moscou, desapareceram na
prisão; o mesmo aconteceu com Preobrajenski, o teórico do comunismo de guerra;
Sosnovski, porta-voz do Partido Bolchevique no primeiro Executivo Central dos
sovietes da ditadura, foi fuzilado; Enukidze, primeiro secretário desse
Executivo, foi fuzilado. A companheira de Lenin, Nadejda Krupskaia, terminou
seus dias não se sabe em qual cativeiro! Dentre os homens da revolução alemã,
Yoffe suicidou-se, Karl Radek preso; Krestinski, que continuou atuando na
Alemanha, foi fuzilado. Da oposição socialista-revolucionária de 1918, Maria
Spiridonova, Trutovski, Kamkov, Karelin, sobreviveram, porém na prisão já há 18
anos. Blumkin, que aderiu ao Partido Comunista, foi fuzilado. Entre os homens
que, no Ano II, asseguraram a vitória da revolução social, pequeno número ainda
viveu: Kork, Iakir, Uborevitch, Primakov, Muklevitch, chefes militares dos
primeiros exércitos vermelhos, foram fuzilados; fuzilados os defensores das
cidades de Petrogrado, Evdokimov e Okudjava, Eliava; fuzilado Fayçulla
Khodjaev, que teve papel de grande importância na “sovietização” da Ásia
Central; desaparecido na prisão, o presidente do Conselho dos Comissários dos
Sovietes da Hungria, Bela-Kun (cf. Serge, 1938).
A criminalização
da dissidência política era regra tanto na ex-URSS quanto no ex-império russo
czarista que também criminalizava heresias religiosas. Além de presos
políticos, havia presos condenados moralmente por vadiagem, furto, roubo, agressão,
homicídio e estupro. Finalmente, a ex-URSS passou por guerras internas e
externas, assim como o Império Russo, então uma parte desses presidiários eram
prisioneiros de guerra. Antes da Revolução, o Gulag chamava-se Katorga, do
grego “katergon”, galé, um sistema prisional da Rússia Imperial. Os
prisioneiros eram mandados a remotos campos desabitados da Sibéria e forçados
ao trabalho escravo. Este sistema começou no século XVII, foi apropriado pelos exércitos
bolcheviques depois da Revolução Russa e transformados no “gulag”.
Miseravelmente se aplicava exatamente a mesma forma hedionda: pena privativa de
liberdade, pena de trabalhos forçados e a pena de morte. Os bolcheviques
intensificaram a autocrática-imperial russa em uma escala de dezenas de vezes
maiores, condições muito piores, onde até o canibalismo antropofágico existiu.
Este sistema funcionou praticamente de 25 de abril de
1930 até 1960. Foram aprisionadas milhões de pessoas, muitas delas vítimas das
perseguições políticas de Joseph Stalin, as consideradas “pessoas infames”,
para a malversada “Pátria Mãe”, a revolucionária União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas, e que deveriam passar por “trabalhos forçados
educacionais” e merecerem viver ideologicamente na chamada Pátria Mãe. O
“Gulag” tornou-se um símbolo da repressão da ditadura de Stalin. Na verdade, as
condições de trabalho nos campos de concentração eram bastante penosas e
incluíam: fome, frio, trabalho intensivo de características próprias da
escravatura e servidão, por exemplo, horário de trabalho excessivo e guardiãs
desvalidas na mana. Floresceram durante o regime chamado pelos historiadores de
“stalinista da URSS”, estendendo-se a Sibéria e a Ucrânia, e destinavam-se, na
verdade, a silenciar e torturar opositores ao regime, incluindo entre eles
anarquistas, trotskistas e outros marxistas.

Em 1857, talvez com a ingênua ilusão de que seria
capaz de inflectir a política externa britânica, Marx dedicou-se a escrever em
inglês uma estranha obra antieslava, “História da Diplomacia Secreta no Século
XVIII” (cf. Engels, 1980), onde as disputas entre potências europeias ficaram
reduzidas a ridículas manobras de bastidores. Este livro deixou os discípulos do
filósofo a tais pontos perplexos quando de sua memorialista Eleonor Marx, o
reeditou em 1899, tomou a iniciativa de cortar algumas passagens esdrúxulas.
Daí em diante os marxistas esforçaram-se por não divulgar a obra e Stalin
censurou-a definitivamente. Os traços característicos da obra ficaram ainda
mais salientes num ensaio escrito por Engels em 1890, “A Política Externa do
Czarismo Russo”. Apesar de o ensaio ter se beneficiado de numerosas edições,
inclusive em russo, Stalin em 1934 censurou a sua publicação. Seu argumento é
que o arguto Engels descurara a análise das contradições entre imperialismos e
da rivalidade pela obtenção de espaços coloniais, insistindo nas ameaças de
guerra suscitadas pela política russa.
Deste modo, continuou Stalin, um confronto militar
entre a Alemanha burguesa e a Rússia czarista podia ser apresentado não como um
“conflito imperialista”, mas como uma guerra de libertação nacional por parte
da Alemanha. Em 1865, depois de ter lido que os russos seriam de origem mongol,
Marx escreveu numa carta para Engels: - “Eles não são eslavos, em suma, não
pertencem à raça indo-germânica, são intrusos que é necessário repelir para
além do Dniepre!”. O mestre da análise social descambara na mitologia racial,
chegando a conclusões inesperadas, numa carta endereçada a Wilhelm Liebknecht
em fevereiro de 1878, onde não viu por detrás dos sérvios senão a sinistra mão
da Rússia e enalteceu o opressor otomano afirmando que “o camponês turco, e,
portanto a massa do povo turco”, era, “sem dúvida, o representante mais ativo e
mais moral do campesinato da Europa”. Ao mesmo tempo contraditoriamente escrevia
no livro: Das Kapital (1867), com dialética
rigorosa as clivagens de classe, Marx propunha uma estratégia para o
proletariado “inspirada em fobias e simpatias nacionais”.
Nenhum país recentemente passou por uma transformação
tão profunda e radical como a Rússia de hoje. Abandonou um regime político-econômico
que perdurou por mais de 70 anos, o do “socialismo de Estado”. Lançou-se em
reformas que visavam alterar sua própria essência política, como a
“perestroika” e a “glasnost”. Foi uma imensa operação de reversão econômica de
um modelo estatizante, baseado na propriedade coletiva dos meios de produção e
no planejamento econômico centralizado, para um sistema oposto, o do
capitalismo laissez-faire. Adotaram
como modelo, o estado liberal ocidental, onde o intervencionismo reduz-se a um
mínimo e as propriedades estatais foram entregues ao controle e administração
privados. As reformas na Rússia ganharam amplo apoio, político e financeiro,
dos principais países capitalistas ocidentais em função delas visarem à
absorção ao sistema capitalista mundial.
Assim, foi estendido à Rússia e ao governo do presidente Boris Yeltsin
generosos empréstimos que permitiram que ele sobrevivesse politicamente às
naturais turbulências do processo. Indica o compasso da crise asiática e a
generalização dos seus efeitos sociais e políticos onde a Rússia marcha para
uma depressão econômica. Tendo uma das maiores reservas energéticas do mundo desde
petróleo, gás, minerais e demais produtos com os quais pagam suas dívidas, suas
importações, comparativamente, qualquer abalo que ela sofra faz com que as
economias hegemonicamente dos países malditos ricos, incluindo a plutocracia norte-americana
também se afetem e sintam-se ameaçadas.
Enfim, o poema “O anjo agachado” (cf.
Ricardo Domeneck, Berlim, 9.8.2012), foi dedicado às três jovens revolucionárias Nadezhda
Tolokonnikova, Yekaterina Samutsevich & Maria Alyokhina: - “Adiante no túnel
é um trem./ Rasputin, Stálin, de certo Nicolau II a Putin./Quiçá piore tudo um
putsch./Que importa se pode seguir lendo Tchecov./A isso nós chamamos Sobre uma
desgraça, outra./Eterno retorno e catástrofe,/já não há espaço entre teto/e
monturo para aquele Anjo Novo. Ele, torcicolo, manco/há muitos séculos.
Exemplo: os russos./ Estes enxergam no escuro,/ pois só o escuro os olha./ Ao
fim das células-cone,/a luz democracia pós-Muro./Se uma rebelião-Pussy contra
os machos-alfa vier, que ela nos traga à “Origem do Mundo”./Mas os falos que
falam nos mantêm mudos./ “Que globo, meu Deus!”, disse eu, feito um rato, e
voltei a roer as unhas”.
Em carta de 2 de janeiro de 2013, Slavoj Žižek refere-se
assim à Nadezdha Tolokonnikova - Querida Nadezdha: Espero que você tenha
conseguido organizar sua vida na prisão através de pequenos rituais que tornam
essa experiência tolerável, e que você tenha tido tempo de ler. Segue o que
penso acerca da situação que você está passando. John Jay Chapman, um ensaísta
político norte-americano, escreveu sobre radicais em 1900: - “Eles estão
dizendo sempre a mesma coisa. Eles não mudam; todas as outras pessoas mudam.
Eles são acusados dos crimes mais incompatíveis, de egoísmo e sede de poder,
indiferença ao destino de sua causa, fanatismo, trivialidade, falta de humor e
de irreverência. Mas eles têm algo a dizer, é o poder prático dos radicais
persistentes. Aparentemente, ninguém os segue, mas todos acreditam neles”. Não
é uma boa descrição do efeito das performances
do Pussy Riot? Apesar de todas as
acusações, vocês tem algo a dizer. Pode parecer que as pessoas não as seguem,
mas secretamente, elas acreditam em vocês, elas sabem que vocês estão dizendo a
verdade, ou ainda mais, que vocês estão defendendo a verdade.
Bibliografia geral consultada.
SERGE, Victor, O Ano I da
Revolução Russa. Paris, Setembro de 1938; GRAMSCI, Antônio, Lettere dal Carcere. Torino: Editore
Einaudi, 1947; EHRHARD, Macelle, A
Literatura Russa. São Paulo: Coleção Saber Atual, 1956; HELLER, Agnes, Sociologia della vita quotidiana. Roma:
Editore Riuniti, 1975; SOLZHENITYN, Aleksandr, The Gulag Archipelago. Londres: Editores Harper & Row, 1976; BERGSON,
Henri, Cartas, conferências e outros
escritos. São
Paulo: Abril Cultural, 1979; WALICKI, Andrezej, A History of Russian Thought. Stanford: Stanford University Press,
1979; ENGELS, Friedrich, El Problema de
los Pueblos ´Sin Historia`. La Questión de las Nacionalidades en la Revolución de 1848-1849 a la Luz
de la Neue Rheinische Zeitung. México: Pasado
y Presente, 1980; BOBBIO, Norberto, Ni
con Marx ni contra Marx. 1ª edición. Espanha: Fondo de Cultura, 1999; KAFKA,
Franz, Carta ao Pai. Rio de Janeiro:
Companhia das Letras, 1997; LÉVY, Bernard-Henri, O Século de Sartre. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 2001; AGABEN,
Giorgio, Estado de Exceção. Belo
Horizonte: Editora da Universidade Federal de Minas Gerais, 2002; DERRIDA,
Jacques, Papel-máquina. São Paulo:
Estação liberdade, 2004; ŽIŽEK, Slavoj, Às Portas da Revolução: Seleção dos Escritos de Lenin de Fevereiro a Outubro de 1917. São Paulo: Boitempo Editorial, 2005; POE, Edgar Allan, A
Carta Roubada. 1ª edição. Porto Alegre: L & PM Pocket, 2005; ANISSIMOV,
Myriam, Vassili Grossman: Un Écrivain de Combat. Paris: Éditions du Seuil, 2012; ELTCHANINOFF, Michel, “Nadejda
Tolokonnikova/Slavoj Žižek. Lettres de Prison: Pussy Riot, Marx et le Capitalisme Tardif”. In: Philosophie Magazine, (074):
11/2013; pp. 28-36; LEITE, Flávia Lucchesi de Carvalho, Riot Grrrl: Capturas e Metamorfoses de uma Máquina de Guerra. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2015; 321 páginas; entre outros.
______________
* Sociólogo (UFF), Cientista Político (UFRJ), Doutor em Ciências junto à Escola de Comunicações e Artes. São Paulo: Universidade de São Paulo (ECA/USP). Professor Associado da Coordenação do curso de Ciências Sociais. Centro de Humanidades. Fortaleza: Universidade Estadual do Ceará (UECE).