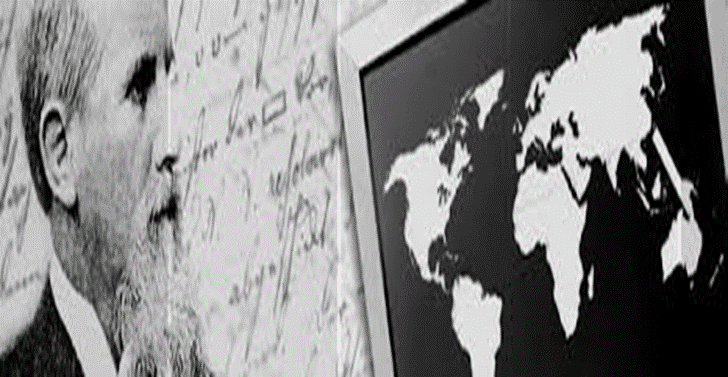“O mundo começou sem o homem e acabará sem ele”. Claude Lévi-Strauss (1908-2009)
O triângulo amoroso é o mais antigo problema da existência humana que os próprios triângulos da geometria. Do ponto de vista histórico, a geometria reconhecida sua importância até hoje começou com Euclides, no século III a.C. Em compensação, o triângulo amoroso não tem uma data precisa, pois é uma realidade extemporânea tão antiga como a própria humanidade. Um triângulo amoroso refere-se a uma relação amorosa que envolve três pessoas - o que pode implicar que duas dessas pessoas estejam romanticamente ligadas a uma mesma pessoa ou, mesmo, que cada um sinta algo semelhante pelos outros dois. Não se deve confundir, contudo, este conceito com chamada ménage à trois, que se refere a uma relação sexual envolvendo três pessoas. O triângulo amoroso é um dos temas mais explorados pelo universo ficcional estético e artístico como ocorre em óperas, romances, banda desenhada ou mesmo em canções. Um dos mais famosos triângulos amorosos da história da literatura é o que envolveu Lancelote, Guinevere e o Rei Artur, em que este é alvo da infidelidade dos dois primeiros: um dos seus cavaleiros mais amados e a sua mulher. O tema foi desenvolvido também, de forma paradigmática, no filme Jules et Jim, de 1962, um drama dirigido por François Truffaut. Narra a amizade de homens e o amor de ambos pela mesma mulher.
Após a Grande Guerra de 1914-18, na qual Jules e Jim combatem em campos opostos, os três amigos reencontram-se na Alemanha, onde Jules vive com Catherine, e esta apaixona-se por Jim. É um filme essencial da obra de François Truffaut (1932-1984), uma tragédia articulada sobre a força da relação de amizade e da paixão. Jeanne Moreau é inesquecível ao cantar Le Tourbillon de la Vie (1962), de Serge Rezvani, que é um pintor, gravador, escritor francês, além da singular formação da tríade “compositor-compositor-intérprete”. Ele é reconhecido por seu pseudônimo Cyrus Bassiak. Curiosa é um filme biográfico francês de 2019 dirigido por Lou Jeunet e estrelado por Noémie Merlant, Niels Schneider e Benjamin Lavernhe. É ilustrado através da relação estabelecida entre os autores franceses do século XIX Pierre Louÿs e Marie de Régnier. Pierre Louÿs era um erotomaníaco que “tirava fotografias eróticas ou pornográficas de suas amantes”. Tais representações eróticas são referidas como “curiosa”. O filme narra a relação entre Marie de Régnier (1875–1963) e Pierre Louÿs (1870–1925), que se passa na França na virada do século XX. Pierre Louÿs e seu amigo Henri de Regnier apaixonam-se ambos por Marie, filha do poeta José-Maria de Heredia. Marie é uma escritora respeitada que assinou seu primeiro livro, L`Inconstante (1903) sob o pseudônimo de Gérard d`Houville. Embora ame Pierre, ela se casa com o rico Henri para “ajudar a pagar a dívida de seu pai e melhorar sua posição social”. Posteriormente, Pierre foge para a Argélia, onde conhece Zohar, uma mulher sedutoramente exótica com quem inicia relacionamento apaixonado. Quando retorna à França, leva Zohar com ele.
Marie se torna sua amante e ela e Zohar se envolvem em “jogos eróticos” com Pierre e posam nus para ele. Eles se descobrem transgredindo as normas em que vivem. Marie começa a inventar histórias para inflamar a imaginação erótica de Pierre. Com elas ganha poder sobre ele e descobre sua sexualidade e voz literária. Quando Pierre volta de viagem, Marie “sente um vazio terrível e descobre que está grávida”. Presa em um “casamento sem amor”, ela se envolve com o amigo de Henri, o fotógrafo Pierre Louÿs, mergulhando por meio de sua fotografia num mundo recheado de arte e erotismo. A obra foi baseada nas cartas reais trocadas entre a escritora Marie de Régnier e o fotógrafo, na França do século XIX. Filha do poeta cubano José Maria de Heredia (1842-1905), naturalizado francês em 1893, durante toda a infância teve contato social com poetas e artistas; entre eles, Leconte de Lisle, Anna de Noailles, Paul Valéry frequentadores de sua casa. Marie não recebeu instrução formalmente na escola e mas por seus pais. Seus primeiros poemas foram escritos para a Bibliothèque de l`Arsenal, onde seu pai era um extraordinário diretor. Fundada em 1757 em Paris faz parte da Bibliothèque Nationale de France desde 1934. As coleções da biblioteca tiveram origem na biblioteca de Marc-René, 3º marquês d`Argenson (1722-1787), instalada em 1757 na residência do Grão-Mestre da Artilharia, no coração do antigo Arsenal de Paris. O próprio Arsenal foi fundado pelo rei Francisco I rei da França no século XVI, governando de 1515 a 1547, posteriormente, reconstruído por Sully e ampliado pelo arquiteto Germain Boffrand no século XVIII. Paulmy havia reunido coleção magnífica.
Isto é, rica em manuscritos e gravuras medievais. Em 1786 adquiriu também a coleção do duque de la Vallière, mas depois vendeu toda a biblioteca ao conde d`Artois. Curiosamente a biblioteca foi sequestrada pelo Estado durante a Revolução Francesa, e foi grandemente ampliada por muitos itens valiosos apreendidos nas abadias de Paris e também pelos arquivos da Bastilha. Em 28 de abril de 1797 foi declarada biblioteca pública. Em 1824, o escritor Charles Nodier tornou-se bibliotecário e manteve no Arsenal alguns dos mais conceituados salões literários da época. No século XIX, as coleções tornaram-se cada vez mais voltadas para a literatura, especialmente o drama. Entre 1880 e 1914 a biblioteca adquiriu um exemplar de todos os periódicos publicados em Paris. Em 1934 tornou-se um departamento da Bibliothèque Nationale. A biblioteca já foi reconhecida como Biblioteca de Monsieur e Balzac já foi leitor lá; no início do século XX ainda estava alojado na antiga residência do Grão-Mestre. A biblioteca contém aproximadamente um milhão de volumes, incluindo 150.000 volumes anteriores a 1880, pouco mais de 12.000 manuscritos como o Martírio de São Maurício e seus Camaradas, 100.000 impressões e 3.000 gráficos e planos. A sua política colecionista concentra-se na literatura francesa do século XVI ao século XIX, nas publicações ligadas aos arquivos e coleções de manuscritos (funds) já detidos, na bibliofilia, na história do livro e encadernação, e na história do próprio Arsenal e dos seus ocupantes.
Umberto
Eco critica o uso esotérico da interpretação, fazendo ver que um texto não pode
ser aprisionado em seu conjunto por uma única verdade, pois demonstra que a
vontade de uma interpretação única é, afinal, a vontade de manutenção de um
segredo, que diz respeito à manutenção de poder. Essa crítica não desfaz a
impressão de que a interpretação não pode ser meramente uma impressão subjetiva
do texto. Cabe a nós sermos “servos respeitosos” da semiótica. Se nós,
leitores, podemos achar no texto um significado, cabe a nós termos claro que
esse significado é uma referência nossa, que evidentemente nem sempre irá
respeitar o texto original. Portanto, que existe a “intentio lectoris e a
intentio operis”, isto é a intenção do leitor e a do texto. Enquanto a intenção
do leitor pode ser reconhecida, a intenção do texto parece quase para sempre
perdida, mas deve ser conjecturada pela interpretação desse leitor, pelo menos
através de coerência: qualquer interpretação feita texto poderá
ser aceita se for confirmada por uma parte processual do mesmo texto, e
deverá ser rejeitada se assim a contradisser.
Daí
a sua importância em distinguir, no modelo comunicacional, e, portanto, no
universo retórico, o termo ideologia que se presta a numerosas codificações.
Deixando de lado a noção de ideologia como “falsa consciência”, Umberto Eco,
reitera o papel da ideologia como tomada de posição filosófica, política,
estética, etc. em face da realidade. Nosso intuito, afirma, é conferir ao termo
ideologia, e a par dele ao de retórica, uma acepção muito mais
ampla vinculada ao universo do saber do destinatário e do grupo a que pertence,
os seus sistemas de expectativas psicológicas, os seus princípios morais, isto
é, quando o que pensa e quer é socializado, passível de ser compartilhado pelos
seus semelhantes. Para consegui-lo, porém, é mister que o sistema de saber se
torne sistema de signos: a ideologia é reconhecível quando, socializada,
se torna código. Nasce, assim, uma estreita relação entre o mundo dos códigos e
o mundo do saber preexistente. Esse saber torna-se visível, controlável,
comerciável, quando se faz código, convenção comunicativa. O aparato sígnico
remete ao aparato ideológico e vice-versa e a Semiologia, como ciência da
relação social entre códigos e mensagens, transforma-se concomitantemente na
atividade de identificação contínua das ideologias que se ocultam sob as
retóricas. Enfim, do ponto de vista teórico e metodológico, a semiologia demonstra-nos no universo dos signos, sistematizado em códigos e léxicos, o
universo das ideologias, que se refletem nos modos pré-constituídos da
linguagem. Ipso facto, em sua gênese, no início do século XIX, designava um
estudo das ideias, como elas se formam e que fenômenos sociais incidem para isso, pelo pensador Destutt de Tracy.
Sua
vida sentimental e familiar foi de agitada esposa de Henri de Régnier, poeta
simbolista francês, considerado um dos mais importantes de França no início do
século XX; foi amante de Pierre Félix Louÿs, poeta e romancista belga, nascido
em Gand e falecido em Paris em 6 de junho de 1925, com quem teve um filho, e
teve outros amantes, incluindo o poeta Gabriele D`Annunzio (1863-1938). Suas primeiras
obras foram publicadas sob o nome de Marie Régnier, e após o sucesso, escreveu
sob pseudônimo. Este vem de Girard d`Ouville, nome de solteira da
avó paterna. Sob este pseudônimo, em 1918, recebeu o 1º Prêmio de Literatura da
Academia Francesa pela sua obra. A partir de 1894, publicou seus poemas na
revista francesa La Revue des Deux Mondes, uma das mais antigas em
circulação na Europa. Foi fundada por Prosper Maurois e Pierre de Ségur-Dupeyron (1800-1869), sua
primeira edição ocorreu em 1° de agosto de 1829. Em 1831, Charles Buloz comprou
a revista. Em 1945, mudou de título e em 1956 quando fundiu-se com a revista Hommes
et Mondes, mas logo convertida revista mensal, outrora bimestral, em 1969.
Em 1982 a edição retorna ao original com a periodicidade bimestral. Seu primeiro romance, L`Inconstante, foi publicado em 1903.
Melhor dizendo, um agente social capaz de atualizar as propostas dos textos, a fim de compreender todo o potencial implícito nos mesmos. É neste sentido que em “Número Zero”, Eco idealiza um escritor de meia idade que vive de trabalhos avulsos como “Ghost writer” é convidado para assistente de direção em um projeto para a criação de um jornal, trabalho pelo qual será bem recompensado. Para esse projeto são chamados seis redatores que já escreveram para colunas diversas, e todos a princípio ficam satisfeitos com o convite acreditando que o jornal é uma boa aposta, e poderá quem sabe, alavancar suas carreiras. No entanto o diretor já havia aberto o jogo com o assistente: o jornal servirá como uma espécie de fachada para servir às pretensões políticas do editor, um empresário multimilionário que entre seus negócios é dono de canais de TV e o jornal provavelmente não será lançado. A veia cômica do escritor aparece nos diálogos dos repórteres do jornal fictício “Amanhã: Ontem”. A trama é ambientada na redação de notícias e nas ruas de Milão no ano de 1992 e descreve de forma alegórica, a “operação mãos limpas” – a grande investigação judicial ocorrida na Itália nos anos 1990, que no âmbito da “espetacularização” pública acabou na prisão de políticos, empresários e integrantes da máfia e resultou no fim da 1ª República Italiana.
Veneza/Gênova, Holanda, Reino Unido e Estados Unidos, pela ordem, foram as grandes potências das sucessivas épocas durante as quais suas frações das classes dominantes desempenharam, ao mesmo tempo, o papel de líderes dos processos de formação do Estado e de acumulação do capital. Temos assim a tese segundo a qual existiram quatro ciclos sistêmicos de acumulação de capital durante a evolução do capitalismo como sistema mundial: um ciclo genovês, do século XV ao início do século XVII. Por outro lado, no mesmo período, a Espanha pretendia dominar todo o território dos Países Baixos, na qual a Holanda estava situada, pois a circulação de mercadorias naquela região contribuía significativamente para abastecer os cofres do tesouro espanhol. Não obstante, em 1581, sete províncias do Norte dos Países Baixos, incluindo a Holanda, criaram a República das Províncias Unidas e passaram a lutar por sua autonomia em relação aos espanhóis. Ao incorporar Portugal, aproveitando-se do seu controle sobre o Brasil, a Espanha planejou impedir que os holandeses continuassem a comercializar o açúcar brasileiro. Era uma tentativa de sufocar economicamente a Holanda e impedir sua independência do ciclo holandês, do fim do século XVI até decorrida a maior parte do século XVIII; correspondente ao ciclo britânico, da segunda metade do século XVIIII até o início do século XX; um ciclo norte-americano, iniciado no fim do século XIX e que prossegue na atual fase de expansão financeira.
Portanto, o regime de exploração mercantil genovês durou 160 anos, o holandês 140 anos, o britânico 160 anos e o norte-americano 100 anos. O Oriente, sociologicamente falando, é uma entidade autônoma dotada de múltiplas identidades com suas respectivas localizações territoriais. O que seria então esse Orientalismo cuja definição permite afirmar que o Oriente é uma invenção do Ocidente? Segundo Said (1990) esse conceito tem diversos significados, mas que de modo geral reflete a forma específica pela qual o Ocidente europeu reproporia ao nível ideológico e cultural a designação do que é o Oriente. Assim, o Orientalismo não necessariamente estabelece uma relação dialética e real de identificação real com o Oriente e sim, inversamente é a ideia que o Ocidente faz dele, segundo uma visão eurocêntrica, de determinados aspectos das culturas orientais, por parte de escritores e artistas plásticos ocidentais, que acabaram por convertê-los em estereótipos. Popularizado como um campo de estudo desde o século XVIII, mas tendo adquirido particularidades institucionais a partir do colonialismo moderno do século XIX, o orientalismo estudava, sem distinções, um vasto grupo de civilizações que incluem o Extremo Oriente, a Índia, a Ásia Central, o Médio Oriente, vulgarizado ao nível ideológico totalizante pela designação Mundo Árabe e mesmo a África, em alguns casos. Nesse sentido o Oriente ajudou a definir a Europa ou o Ocidente de forma transcendente com sua imagem, ideia, personalidade e experiência contrastantes. O Oriente na visão do Orientalismo é o “lugar do exótico”. Precisamos tornar do ponto de vista teórico, prático e afetivo o exótico em familiar. É o que inferimos nestas notas de leitura sobre imigração no sentido antropocêntrico.
Tirando
partido do saber acumulado de sua vasta experiência como semiólogo e estudioso
da comunicação, o escritor italiano inovou ao combinar as convenções da
literatura, por assim dizer, comercial com uma erudição assombrosa e um
tratamento inventivo e irônico de seus temas, de tal forma que temos sempre a
impressão de ler algo além do que lemos, de que existe outro enredo,
ideológico, por trás da trama aparente e linear as superfícies. Comparado a
seus romances anteriores, “Número zero”, o título se refere, na prática
jornalística, à “edição de teste”, para circulação interna, de uma publicação
que ainda está por ser impressa e lançada – pode parecer uma obra menor e pouco
ambiciosa. A impressão é enganosa: justamente porque, por trás do enredo
aparente, sobre a experiência fracassada dos preparativos para o lançamento de
um novo jornal, o “Amanhã”, Eco embute uma crítica cínica e cética não somente
à imprensa canalha e sensacionalista, mas também ao Estado ladrão e ineficiente
e ao processo de empobrecimento moral da sociedade, que assiste de forma
passiva à naturalização dos escândalos desde a corrupção. Sugestivamente,
“Número zero” é um romance sobre a morte do “Amanhã”. É um retrato
desesperançado da Itália contemporânea, como se ali tivesse falhado o projeto
de construção de uma nação. Isso nos ajuda a compreender um ponto importante
nesta literatura: a ideologia não é o significado. Mas é uma forma de
significado conotativo último e global. Pois, “a ideologia é a conotação final
da totalidade das conotações do signo ou do contexto dos signos”. Do ponto de
vista pragmático representa toda a verdadeira subversão das expectativas que se
efetiva na medida em que se traduz em mensagens que também subvertem os
sistemas de expectativas retóricas.
E sociologicamente toda subversão profunda das expectativas retóricas é também um redimensionamento das expectativas ideológicas. Nesse princípio se baseia a arte de vanguarda, mesmo nos seus monumentos definidos como “formalistas”, quando, usando o código de maneira altamente informativa, não só o põe em crise, mas obriga a repensar, através da crise do código, a crise das ideologias como as quais ele se identificava. Frequentemente, portanto, a obra, como qualquer outra mensagem, contém seus próprios códigos: quem hoje lê os poemas homéricos extrai dos significados denotados pelos versos uma tamanha massa de noções sobre o modo de pensar, de vestir, de comer, de amar ou de guerrear daqueles povos, que está apto a reconstruir seus sistemas de expectativas ideológicas e retóricas. A leitura da obra desenvolve-se, pois, numa oscilação contínua, pela qual se vai da obra à descoberta dos códigos de origem que ela sugere, dessa descoberta a uma tentativa fiel da obra, para daí voltarmos aos nossos códigos e léxicos de hoje e experimentá-los sobre a mensagem. Metodologicamente, procede-se, destarte, a um confronto contínuo, a uma integração entre as várias “chaves de leitura”, fruindo-se a obra através desta sua ambiguidade, oriunda não só do uso informativo dos significantes em relação ao código de partida, mas do uso informativo dos significantes reportados aos nossos códigos de chegada, o que dá origem a novas mensagens-significado, as quais passam a enriquecer nossos códigos e nossos sistemas ideológicos, reestruturando-os e dispondo os leitores de amanhã a uma nova situação interpretativa em relação à obra, em várias fases, mas que a teoria não pode prever quanto às formas concretas que irá assumir: a mensagem cresce, mas não se sabe como poderá crescer.
É errado pensar que todo ato comunicacional se baseia numa língua afim tendo como representação os códigos da linguagem verbal, e que, ipso facto toda língua deva ter articulações fixas. Para ficarmos num exemplo, no âmbito da comunicação visual, a comunicação fílmica é a representação que melhor permite verificar porque um código comunicacional extralinguístico não tem necessariamente que construir-se sobre o modelo da língua. O código fílmico não é o código cinematográfico porque se refere à reprodutibilidade técnica da realidade por meio de aparelhos cinematográficos, ao passo que a comunicação fílmica codifica uma comunicação ao nível de determinadas regras narrativas. Não há dúvida que o primeiro se apoia no segundo, assim como o código estilístico-retórico se apoia no código linguístico, como léxico do outro. A denotação cinematográfica é comum ao cinema e provavelmente à televisão, o que levou Píer Paolo Pasolini a aconselhar que essas formas comunicacionais fossem designadas em bloco, não como cinematográficas, mas como audiovisuais. Naturalmente é preciso nos limitar a algumas observações sobre as possíveis articulações de um código cinematográfico, aquém das pesquisas de estilística, de retórica fílmica, de uma codificação da grande sintagmática do filme, como se o cinematógrafo não nos tivesse dado senão: “L`arrive du train à la gare” e “L`arroseur arrose”, esses pequenos filmes de autoria dos extraordinários irmãos Lumière. Enfatizando essas atividades sociais desenvolveu-se na década de 1930 o conceito de indústria cultural.
A
linguagem do discurso autoral é compreendida numa ótica estreitamente unidimensional,
onde a instrumentalização das coisas torna-se instrumentalização dos
indivíduos, desconsiderando-se a intervenção dos homens na vida social e
omitindo a complexidade da dimensão simbólica de apropriação do real
omnipresente em todo o ato comunicativo. Perceber as sociedades de controle de
forma unidimensional equivale a pensar as instituições como instância separadas
e isoladas das dinâmicas sociais. A análise concreta das relações de poder nas
instituições (família, Estado, universidade, etc.) que são par excellence,
as protagonistas da inserção social, lideram o processo de constituição das
identidades e regulam a sociedade. O processo ad infinitum de evolução social,
envolve então a permanente produção de subjetividades modulada por instituições
híbridas e diferentes combinações fora das instituições. A crise das
instituições significa, justamente, que as fronteiras entre elas estão sendo
derrubadas, de modo que a lógica capitalista de pensar que funcionava
principalmente dentro das paredes institucionais se espalhava por todo o
terreno social. Do ponto de vista da comunicabilidade o efeito social
específico move a causa e a causalidade se move em espiral. Ipso facto, todo
comportamento humano passa a ter valor comunicativo e, como a comunicação não
ocorre sobre fatos sociais fora das relações sociais, entendemos que todo
processo de trabalho é um processo de comunicação, embora nem todo processo de
comunicação seja um processo de comunicação. Onde o processo de produção se
caracteriza por elementos imateriais ligados às capacidades cerebrais e
cognitivas, a cooperação entre trabalhadores, não pode realizar sua atividade
na reprodutibilidade técnica, reduzida e confundida com a cooperação
tecnológica e comercial.
A utilização da força de trabalho é o próprio trabalho. O processo de trabalho é o processo de sua valorização. O comprador da força de trabalho, o capitalista, a consome fazendo com que seu vendedor trabalhe. Desse modo, este último se torna actu aquilo que ante era apenas potentia, a saber, força de trabalho em ação, trabalhador. Para incorporar seu trabalho em mercadorias, ele tem de incorporá-lo, antes de mais nada, em valores de uso, isto é, em coisas que sirvam à satisfação de necessidades de algum tipo. Assim, o que o capitalista faz o trabalhador produzir é um valor de uso particular, um artigo determinado. A produção de valores de uso ou de bens não sofre nenhuma alteração em sua natureza pelo fato de ocorrer para o capitalista e sob seu controle, razão pela qual devemos, de início, considerar o processo de trabalho independentemente de qualquer forma social determinada. O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo este em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a natureza. Ele se confronta com a matéria natural como uma potência natural. Agindo sob a natureza externa modificando-a por esse movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. Ele desenvolve as potências que nela jazem latentes e submete o jogo de suas forças sociais a seu próprio domínio. Lembra Marx, que um incomensurável intervalo de tempo separa o estágio em que o trabalhador se apresenta no mercado como vendedor de sua própria força de trabalho daquele em que o trabalho humano ainda não se desvencilhou de sua forma instintiva. Quando um valor de uso resulta do processo de trabalho como produto, nele estão incorporados, como meios de produção, outros valores de uso, produtos de processos de trabalho anteriores. O mesmo valor de uso que é produto desse trabalho constitui o meio de produção de um trabalho ulterior, de modo que os produtos são não apenas resultado, mas também condição do processo de trabalho.
O
engajamento do cinema francês é o mais dinâmico da Europa continental em termos
de público, números de filmes produzidos e de receitas tributárias geradas por
suas produções cinematográficas. O cinema francês teve um desempenho importante
na história social deste meio social de comunicação, tanto em termos técnicos
como históricos. Os primórdios do cinema contam com vários nomes franceses,
entre os quais os se destacam os irmãos Ampére, não só responsáveis pelo estudo
da corrente elétrica, mas também a invenção das primeiras câmeras, feito
geralmente erroneamente atribuído aos irmãos Auguste Marie e Louis Jean
Lumiére, os inventores do cinématographe, sendo frequentemente referidos como
“os pais do cinema”. No desenvolvimento do cinema como forma técnica de arte,
muitos dos filmes realizados na França são considerados marcos relevantes. Após
1ª Grande Guerra (1914-18) o cinema francês entrou em crise, como de resto os
países envolvidos no conflito, devido a falta de recursos financeiros para a
criação de novos filmes, como aconteceu na maioria dos países europeus. A
situação de crise permitiu que os filmes norte-americanos chegassem aos cinemas
europeus. Mas os filmes de consumo mais baratos poderiam ser bem
comercializados já que seus estúdios recuperavam os gastos dos filmes em seu
próprio mercado. A França adotou um princípio de reserva de mercado
protecionista para diminuir a importação de filmes e estimular a produção
interna e comercial francesa, onde proporcionalmente, a cada sete filmes
importados um filme francês deveria ser produzido e exibido nos cinemas
franceses.
O cinema francês estatisticamente tem o mais alto índice de participação de mercado na Europa, oscilando entre 35% e 40%. Eric Garandeau explicou que o país não tem cota de tela. – “Acreditamos que os outros mecanismos são suficientes para garantir a presença da produção francesa nas salas. O que temos são mecanismos de incitação à diversidade e algumas medidas de regulação. Há, por exemplo, uma limitação quanto ao número de salas em que um mesmo filme pode ser exibido em um único complexo. Essa regra chegou a provocar uma reclamação dos donos de cinemas de arte, já que muitos multiplex passaram a programar os mesmos filmes que o circuito especializado. Mas preferimos esse tipo de problema a ver uma grande concentração de um mesmo lançamento”. Ele destacou a digitalização dos cinemas e dos filmes como a principal nova demanda financeira do setor. O governo estabeleceu um padrão mínimo para a projeção digital e criou um “fundo de digitalização” no valor de € 200 milhões.
Parte dessa quantia será destinada à um fundo de apoio à digitalização dos circuitos de pequeno e médio porte. – “Nosso desafio é que o vpf não estabeleça condições discriminatórias e não comprometa a diversidade que existe nos cinemas franceses. Precisamos garantir a liberdade total de programação e o acesso dos distribuidores a todas as salas, sem que se estabeleçam acordos privilegiados”. Em 2011, 3349 salas (60.8% do total) e 888 cinemas (43.2% do total) já haviam sido digitalizados, e o objetivo é que o circuito do país esteja 100% digitalizado. Parte do fundo é destinada à restauração e à digitalização, em 2K, de todos os filmes franceses desde a consagração cinematográfica dos irmãos Lumière. São considerados os inventores da Sétima Arte junto com Georges Méliès, também francês, sendo este visto como o “pai do cinema de ficção”. Louis e Auguste eram ambos engenheiros. Auguste ocupava-se da gerência da fábrica, fundada pelo pai. Dedicaram-se à atividade cinematográfica produzindo alguns documentários curtos, destinados à promoção do invento social, embora acreditassem que o cinematógrafo fosse apenas um instrumento científico “sem futuro comercial”. Casaram-se com duas irmãs e moravam todos na mesma mansão.
Louis e Auguste eram filhos e colaboradores
do industrial Antoine Lumière, fotógrafo e fabricante de películas
fotográficas, proprietário da Usine Lumière, instalada na cidade francesa de
Lyon. Antoine reformou-se em 1892, deixando a fábrica entregue aos filhos. O
cinematógrafo era uma máquina de filmar e projetor de cinema, invento que lhes
tem sido atribuído, mas que na verdade foi inventado por Léon Bouly, no ano de
1892, o qual teria perdido o registro dessa patente, sendo então de novo
registrado pelos irmãos Lumière em 13 de fevereiro de 1895. São os inventores
da chamada Sétima Arte junto com Georges Méliès, também francês, sendo este
visto como “pai do cinema de ficção”. Louis e Auguste eram ambos engenheiros.
Auguste ocupava-se da gerência da fábrica, fundada pelo pai. Dedicaram-se à
produção cinematográfica realizando alguns documentários curtos, destinados à
promoção do invento, embora acreditassem que o cinematógrafo fosse apenas um
instrumento científico, talvez sem futuro comercial. Casaram-se com duas irmãs
e moravam todos na mesma mansão. Mas houve também um investimento na formação
teórica abstrata e de produção de ideias durante o período próspero de guerras
1914-1918, destacando-se Jacques Feyder, profissional policompetente, ator,
roteirista e diretor de cinema belga que trabalhou principalmente na França,
mas também nos Estados Unidos da América, Grã-Bretanha e Alemanha.
Enfim,
uma semiologia do cinema não pode ser apenas a teoria de uma transcrição da
espontaneidade natural; apoia-se numa cinésica, ipso facto, estuda-lhe as
possibilidades de transcrição icônica e estabelece em que medida uma
gestualidade estilizada, própria do cinema, influi nos códigos cinésicos
existentes, modificando-os. O filme mudo, evidentemente, tivera que enfatizar
os cinemorfos normais; os filmes de Antonioni, ao contrário, parecem
atenuar-lhes a intensidade. Em ambos os casos, a cinésica artificial, fruto de
exigências estilísticas, incide sobre os hábitos do grupo que recebe a mensagem
cinematográfica, e modifica-lhes os códigos cinésicos. Esse é um argumento
interessante para uma Semiologia do cinema, assim como o estudo das
transformações, das comutações, dos limiares de recognoscibilidade dos
cinemorfos. Mas, adverte Umberto Eco, já estamos no círculo determinante dos
códigos, e o filme não mais se manifesta aos nossos olhos como a
representação milagrosa da realidade, mas como uma linguagem que fala outra
linguagem preexistente, ambas interagindo com os seus sistemas de convenções. Quer
dizer que as unidades gestuais cada vez mais são ulteriores à comunicação
cinematográfica. A ilusão da imagem cinematográfica como representação
especular da realidade estaria destruída caso não tivesse na experiência
prática, um processo dialógico com um indubitável fundamento, e se uma
investigação semiológica mais aprofundada não nos explicasse as razões
comunicacionais deste fato.
A
modernidade é inerentemente globalizante. Ela tanto germina a integração como a
fragmentação. Nela desenvolvem-se as diversidades como também as disparidades.
A dinâmica das forças produtivas e das relações de produção, em escala local,
nacional, regional e mundial, produz interdependências e descontinuidades,
evoluções e retrocessos, integrações e distorções, afluências e carências,
tensões e contradições. É altíssimo o custo social, econômico, político e
cultural da globalização do capitalismo, para muitos indivíduos e coletividades
ou grupos e classes sociais subalternos. Em todo o mundo, ainda que em
diferentes gradações, a grande maioria é atingida pelas mais diversas formas de
fragmentação. A realidade é que a globalização do capitalismo implica na
globalização de tensões e contradições sociais, nas quais se envolvem grupos e
classes sociais, partidos políticos e sindicatos, movimentos sociais e
correntes de opinião pública, em todo o mundo. Enquanto totalidade
histórico-social em movimento, o globalismo tende a subsumir histórica e
logicamente não só o nacionalismo e o tribalismo, mas também o imperialismo e o
colonialismo entre formas sociais e eventos locais e distantes se tornam
correspondentemente “alongadas”, para lembramos de Anthony Giddens.
A
história disciplinar das teorias sobre as migrações é, em vários aspectos
contraditória. O tema das migrações foi largamente ignorado pelos autores
clássicos das principais ciências, no período histórico em que estas se
constituíram e consolidaram: o imperialismo. Apesar da importância que os
fluxos migratórios então assumiram - no contexto europeu do final do século XIX
e início do século XX -, quer sob a forma de intensos movimentos internos,
dirigidos dos campos para as cidades, quer de migrações transoceânicas, objeto
de reflexão que permitiram libertar parte do êxodo rural e povoar os novos
continentes, o tema não surge senão de forma marginal na maioria dos autores.
Ao longo do século XX, as ligações disciplinares das teorias sobre migrações
não são também evidentes. Apesar de um interesse crescente pelo fenômeno,
referências mais ou menos desenvolvidas dispersaram-se por várias ciências com
critérios de inserção nem sempre claros. Na sociologia o tema das migrações não
surge, na maioria das vezes, autonomizado, o que não quer dizer independência,
mas deste ponto de vista, a educação ou as questões territoriais, acontecendo o
mesmo em outras ciências sociais.
Bibliografia
Geral Consultada.
VALADIER, Paul, Nietzsche y la Critica del Cristianismo. Madrid: Ediciones Cristiandad, 1982; SCHREBER, Daniel Paul, Memórias de um Doente dos Nervos (1842–1911). 2ª edição. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1985; HATOUM, Milton, Relato de Certo Oriente. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 1989; SAID, Edward Wadie, Orientalismo: O Oriente como Invenção do Ocidente. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 1990; BLANC-CHALEARD, Marie-Claude, Histoire de l`Immigration. Paris: La Découverte, 2001; CLÉRAMBAULT, Gaëten, L’érotomanie. Paris: Les empêcheurs de penser en rond, 2002; GOYATÁ, Francisco José dos Reis, “O Gozo Feminino, a Erotomania e a Eviração na Psicose”. In: CliniCAPS. vol.2 n° 4. Belo Horizonte, abr. 2008; BARTHES, Roland, A Câmara Clara. Lisboa: Edições 70, 2005; LATOUR, Bruno, Reensamblar lo Social: Una Introducción a la Teoria del Actor-Red. Buenos Aires: Manantial Ediciones, 2008; DEBAENE, Vincent, L’Adieu au Voyage: l’Ethnologie Française entre Science et Littérature. Paris: Éditions Gallimard, 2010; BRESSANELI, Juliana; TEIXEIRA, Antônio M. Ribeiro, “Erotomania: Os Impasses do Amor e uma Resposta Psicótica”. In: Ágora (Rio de Janeiro) 15 (spe), dez 2012; IEGELSKI, Francine, A Astronomia das Constelações Humanas. Reflexões sobre o Pensamento de Claude Lévi-Strauss e a História. Tese de Doutorado em História Social. Departamento de História. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2012; SOARES, Paula de, Entre o Documental e o Estético: A Fotografia de Guerra de Robert Doisneau. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem. Instituto de Letras. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2014; SALOMON, Marlon (Org.), Heterocronias: Estudos sobre a Multiplicidade dos Tempos Históricos. Goiânia: Edições Ricochete, 2018; MONTEIRO, Charles, “Fotografia, Corpo e Política: O Foto-livro “À la recherche de l´eu-dourado” (1976) de Pedro Vasquez”. In: Locus: Revista de História. Juiz de Fora, vol.25, n° 2, pp.260-274, 2019; LÉVI-STRAUSS, Claude, O Cru e o Cozido. 1ª edição. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2021; MENDES, Hernani Guimarães, Send Nudes: Estudos para Corpos-imagens. Tese de Doutorado em Artes. Programa de Pós-Graduação em Artes. Centro de Educação e Humanidades. Instituto de Artes. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2023; entre outros.